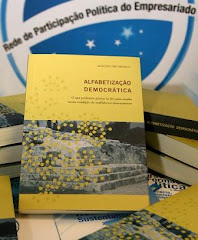Aprender democracia é desaprender autocracia.
20080518
APRESENTAÇÃO
“The fundamental principle of democracy is that the ends of freedom and individuality for all can be attained only by means that accord with those ends... [but] There is no opposition in standing for liberal democratic means combined with ends that are socially radical”.
John Dewey (1937) in “Democracy is radical”.
Nosso analfabetismo democrático
Nada ou quase nada aprendemos de democracia na infância ou na juventude, seja em casa, nas brincadeiras de rua com os amigos, na escola, na igreja, nas associações juvenis ou no esporte. Quando ficamos adultos, também não temos suficientes oportunidades de aprender e praticar a democracia no quartel, na universidade, no trabalho, nas entidades representativas ou em outras organizações da sociedade civil de que participamos.
Até o mundo político – incluindo os políticos tradicionais e seus partidos e as instituições públicas, como os parlamentos e os governos – é apenas semi-alfabetizado em termos democráticos; ou seja, dizendo de modo inverso, o mundo político é composto por semi-analfabetos democráticos. Quem tiver alguma dúvida, faça uma pesquisa tomando como universo as direções partidárias, o Congresso, as Assembléias Legislativas, as Câmaras de Vereadores e os órgãos públicos dos três níveis de governo, com perguntas simples sobre os pressupostos, os princípios, o significado estratégico e o valor da democracia: garanto que os resultados serão impublicáveis.
Essa realidade decepcionante pode ser explicada. A democracia não é uma coisa “natural” no mundo em que vivemos. Apesar das declarações de amor à democracia expressadas por políticos de todos os matizes, a palavra foi esvaziada de seu conteúdo. Tais declarações não refletem uma verdadeira conversão às idéias e às práticas democráticas, pois aderir realmente à democracia não é algo fácil: é preciso remar contra a corrente, contrariar a cultura política estabelecida e, não raro, negar o senso comum.
A democracia é uma brecha – instável – que foi aberta nos sistemas míticos, sacerdotais, hierárquicos e autocráticos aos quais estivemos submetidos nos últimos seis mil anos.
Nesse sentido, não há nada mais subversivo que a democracia. Ela é uma insubordinação contra o poder vertical, entendido como o poder de obstruir, separar e excluir, aquele poder que se estrutura instalando centralizações na rede social para tornar seus agentes capazes de mandar alguém fazer alguma coisa contra sua vontade.
O fato de, até agora, a democracia (como regime político ou forma de administração do Estado) ter sido experimentada - em algumas localidades - em apenas 7% da nossa história (durante 96 minutos, se tomarmos como referência 24 horas = 6 milênios), explica, pelo menos em parte, por que nossa formação democrática é ainda tão incipiente. Sim, desde que foi organizado o primeiro sistema político de poder vertical estável – provavelmente em alguma Cidade-Estado-Templo da antiga Mesopotâmia, talvez em Kish, na Suméria, por volta do ano 3.600 antes da Era Comum – tivemos apenas frágeis e fugazes experiências localizadas de democracia. De lá para cá, as diversas formas de Estado que se sucederam, as instituições públicas, as empresas e as demais organizações privadas da sociedade civil e, inclusive, as tradições espirituais – para não falar das ordens militares e religiosas – foram, em grande parte, autocráticas, não democráticas. Não é de se estranhar que sejam tão altos nossos índices de analfabetismo democrático.
É possível uma alfabetização democrática?
Somos menos analfabetos democráticos em relação à compreensão do funcionamento formal dos nossos atuais sistemas representativos do que em relação à democracia como modo de regulação de conflitos no cotidiano. Até conseguimos entender razoavelmente a democracia como sistema de governo, mas, de modo geral, não admitimos e não praticamos – como queria John Dewey – a democracia como modo de vida, no dia-a-dia, na base da sociedade e nas organizações governamentais ou não-governamentais de que participamos.
Ocorre que o conceito de democracia pode ser tomado em dois sentidos: em sentido “fraco” ou em sentido “forte”. No sentido “fraco” (e pleno) do conceito, democracia se refere atualmente a um tipo de regime – na acepção de sistema de governo ou forma política de administração do Estado – em que os governantes são escolhidos pelos governados e que atende aos seguintes requisitos: 1) liberdade de ir e vir e de organização social e política; 2) liberdade de expressão e crença (incluindo hoje o direito de pesquisar, receber e transmitir informações e idéias sem interferência por qualquer meio, inclusive no ciberespaço); 3) liberdade de imprensa stricto sensu e lato sensu (existência de diversas fontes alternativas de informação); 4) publicidade (ou seja, transparência capaz de ensejar uma real accountability) dos atos do governo e inexistência de segredo dos negócios de Estado quando não estejam envolvidas ameaças à segurança da sociedade democrática e ao bem-estar dos cidadãos; 5) direito de voto para escolher representantes (legislativos e executivos) pelo sistema universal, direto e secreto; 6) condição legal de votar implicando condição de ser votado; 7) eleições livres, periódicas e isentas (limpas); 8) efetiva possibilidade de alternância no poder entre situação e oposição e “aceitabilidade da derrota”; 9) instituições estáveis, capazes de cumprir papéis democraticamente estabelecidos em lei e protegidas de influências políticas indevidas do governo; 10) legitimidade: para ser considerado legítimo o ator político individual ou coletivo deve respeitar – sem tentar falsificar ou manipular – o conjunto de regras que emanam dos requisitos acima mencionados, não lhe sendo facultado modificá-las ou delas se esquivar com base no argumento de que conta, para tanto, com o apoio da maioria da população, mesmo diante de evidências ou provas de seus altos índices de popularidade ou, ainda, com base na crença de que possui a “proposta correta” ou a “ideologia verdadeira” para alcançar qualquer tipo de utopia, seja ela o império milenar dos seres superiores ou escolhidos, o reino da liberdade ou da abundância para todos, para redimir a humanidade ou parte dela ou para salvar de algum modo a espécie humana. Esse é o sentido “fraco” do conceito de democracia, em sua concepção máxima ou plena.
No sentido “forte” do conceito, porém, democracia é mais do que isso, mas não propriamente melhor do que isso porquanto não constitui uma alternativa ou uma realidade comparável à democracia em seu sentido “fraco” (como sistema de governo). John Dewey (1939), por exemplo, no discurso “Democracia criativa: a tarefa que temos pela frente”, em que lançou sua derradeira contribuição às bases de uma nova teoria normativa da democracia que poderíamos chamar de democracia cooperativa, deixa claro que estava tomando o conceito em seu sentido “forte”. A democracia, para Dewey, não se refere – nem apenas, nem principalmente – ao funcionamento das instituições políticas, mas é “um modo de vida” baseado em uma aposta “nas possibilidades da natureza humana”, no “homem comum”, como ele diz, “nas atitudes que os seres humanos revelam em suas mútuas relações, em todos os acontecimentos da vida cotidiana”. Ainda segundo Dewey, a democracia é uma aposta generosa “na capacidade de todas as pessoas para dirigir sua própria vida, livre de toda coerção e imposição por parte dos demais, sempre que estejam dadas as devidas condições” (1). Esse é sentido “forte” do conceito.
Com efeito, em “O Público e seus problemas”, John Dewey (1927) deixou claro que existe uma “distinção entre a democracia como uma idéia de vida social e a democracia política como um sistema de governo. A idéia permanece estéril e vazia sempre que não se encarne nas relações humanas. Porém na discussão há que distinguí-las. A idéia de democracia é uma idéia mais ampla e mais completa do que se possa exemplificar no Estado, ainda no melhor dos casos. Para que se realize, deve afetar todos os modos de associação humana, a família, a escola, a indústria, a religião. Inclusive no que se refere às medidas políticas, as instituições governamentais não são senão um mecanismo para proporcionar a essa idéia canais de atuação efetiva...” (2).
Isso não significa que a democracia, em seu sentido “fraco”, seja menos importante que em seu sentido “forte”, porquanto a condição para que a democracia em seu sentido “forte” possa se realizar é a existência da democracia em seu sentido “fraco”. Atualmente, onde não existe um sistema representativo funcionando, em geral também não há práticas realmente participativas, na base da sociedade e no cotidiano do cidadão, que possam ser consideradas como democráticas. Em outras palavras, a chamada democracia liberal é condição para o exercício de formas inovadoras de democracia radical, como, aliás, o próprio Dewey já havia reconhecido, há mais de setenta anos, quando afirmou que “o princípio fundamental da democracia consiste em que os fins da liberdade e da autonomia para todo indivíduo somente podem ser alcançados empregando-se meios condizentes com esses fins... [mas] não há contradição alguma entre a busca de meios liberais e democráticos combinada com a defesa de fins socialmente radicais” (3).
Por outro lado, como veremos na introdução deste livro, democracia (no sentido “forte” do conceito) não é um regime determinado, não é um modelo aplicável a várias circunstâncias, mas um movimento ou uma atitude constante de desconstituição de autocracia.
Não estamos condenados a conviver eternamente com as formas atuais da democracia representativa, porém não podemos aboli-las em nome de novas formas (supostamente mais participativas) que não assegurem o essencial, o coração mesmo da idéia: a aceitação da legitimidade do outro, a liberdade e a valorização da opinião e o exercício da conversação no espaço público.
Não há nada que impeça os seres humanos de inventar uma nova política democrática, a não ser a sua consciência colonizada por idéias autocráticas. Não existem as tais condições estruturais objetivas para a adoção da democracia, como se supôs no entorno dos anos 70 do século passado. O prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen (1999), matou a charada quando afirmou que a questão não é a de saber se um dado país está preparado para a democracia, mas, antes, de partir da idéia de que qualquer país se prepara por meio da democracia. A democracia é uma opção. Além disso, a idéia de democracia pode ser materializada de diferentes maneiras (4).
Se a democracia não pudesse ser reinventada, ela não poderia ter sido inventada. Ao dizer que a política é o que é, não havendo condições de mudar sua natureza (a relação amigo-inimigo), o realismo político está, na verdade, inoculando uma vacina contra as mudanças políticas democratizantes: está dizendo que a política será sempre o que foi e sempre como foi; ou como se avalia que sempre foi. Ora, na maior parte do tempo a política não foi democratizante: apesar da onda democrática mundial do último século, nos últimos seis milênios a democracia não passou de uma experiência localizada, frágil e fugaz. Depois da sua invenção pelos gregos, a tendência que vigorou amplamente foi a da autocratização e não a da democratização. Por isso teve razão mais uma vez Amartya Sen (1999) quando, perguntado sobre qual teria sido o acontecimento mais importante do século 20, respondeu de pronto: a emergência da democracia.
Com efeito, a democracia está avançando, apesar de tudo (ainda que no sentido “fraco” do conceito, mas que é, como vimos, condição para que ela possa ser ensaiada em seu sentido “forte”). No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, apenas 22 países apresentavam formas de governo democráticas, sendo que todos os demais ainda estavam submetidos a governos totalitários ou autoritários – no sentido de não preencherem aqueles dez requisitos apresentados anteriormente. Sessenta anos depois (em 2005), estimou-se que 117 países eram democráticos, pelo menos formalmente, atendendo a um (a eletividade) ou a mais de um dos dez requisitos listados aqui, embora não mais que 60 países pudessem ser considerados plenamente democráticos, tomando-se como tais os que atendiam a totalidade ou a maior parte dos referidos requisitos. Tudo isso, é claro, no sentido “fraco” do conceito, pois que em seu sentido “forte”, como veremos mais adiante, a democracia não se aplica propriamente a países – Estados-nações – e sim à sociedades, ou melhor, a comunidades (5).
O problema, portanto, não parece estar em uma dificuldade maior de aceitação formal da idéia de democracia como sistema de governo, senão nas idéias indigentes que temos de democracia, como: “democracia é votar para escolher quem vai mandar” ou “democracia é todo mundo decidindo sobre tudo”.
Por outro lado, ainda é muito pequeno o número de pessoas que compreende a democracia como um pacto de convivência baseado na aceitação da legitimidade do outro, na liberdade e na valorização da opinião e na conversação realizada no espaço público, que tem como objetivo resolver, pacificamente, os dilemas da ação coletiva de modo a privilegiar a construção progressiva de consensos entre posições diferentes ou conflitantes, transformando, assim, inimizade política em amizade política.
Geralmente as pessoas tendem a achar que ‘democracia é eleição’, que ‘democracia é a prevalência da vontade da maioria’, que ‘democracia é a lei do mais forte’ (daquele que tem maioria, sendo, no caso, mais forte, o competidor que tem mais votos) ou, ainda, que ‘democracia é a regra do jogo estabelecido para verificar quem tem mais audiência e, assim, entregar os cargos públicos representativos ao detentor do maior índice de popularidade’.
Nas consultas informais que tenho realizado nas turmas de um curso de formação política que ministro, a partir de 2007, para centenas de alunos, constatei que a maioria dos “entrevistados” não considera inaceitáveis afirmações como: ‘democracia é o regime da maioria’ ou ‘democracia é fazer a vontade do povo’. Boa parte desses alunos considera que ‘os votos da maioria da população estão acima das decisões das instituições democráticas (inclusive dos julgamentos dos tribunais) quando tais instituições representam apenas as minorias (ou as elites)’. Parcela não desprezível dos consultados acredita que ‘para um governo ser democrático basta ter sido eleito sem fraude pela maioria da população’, que ‘quem tem maioria tem sempre legitimidade’ ou, ainda, que ‘um grande líder identificado com o povo pode fazer mais do que instituições repletas de políticos controlados pelas elites’. Isso para não falar da convicção – generalizada, conquanto nem sempre expressa – de que ‘não adianta muito ter democracia se o povo passa fome’ ou de que ‘não adianta ter democracia política se não for reduzida a desigualdade social’.
Diante desse quadro, seria pouco razoável esperar que as pessoas compreendessem as relações existentes entre democracia e sustentabilidade e se comportassem de modo condizente com tal compreensão. Mas seria demais esperar que, pelo menos, as pessoas compreendessem que a democracia é o valor principal da vida pública e que tudo – qualquer evento, qualquer proposta – deve ser avaliado, medido e pesado, a partir da seguinte pergunta: isso ajuda ou atrapalha o avanço do processo de democratização da sociedade? Se chegássemos a isso, creio que teríamos alcançado o objetivo da alfabetização democrática.
As condições para tal, entretanto, não têm sido, na história recente, particularmente favoráveis. No Brasil, em particular, não tivemos experiência suficiente de democracia, nem muitas oportunidades para aprender o que é democracia. Nem a chamada direita, nem as esquerdas que lutaram contra a ditadura militar (1964-1984) tiveram aprendizagem de democracia. Duas gerações inteiras de brasileiros (ou, se quisermos, três: dos nascidos entre 1945 e 1985) aprenderam que era preciso recusar a ditadura, mas não aprenderam o que era necessário para construir a democracia, nem mesmo no sentido “fraco” do conceito. Os que nasceram nas décadas de 1940 e 1950 e entraram na universidade nos anos 60 e 70, foram induzidos a rejeitar o imperialismo norte-americano e a admirar a União Soviética, a China, a Albânia ou Cuba – mas nada de democracia. Com a queda do Muro de Berlim, na ausência de modelos para imitar, os que nasceram no início dos anos 70 e entraram na universidade a partir de 1990 foram "educados" para rejeitar o novo satã chamado neoliberalismo – mas, igualmente, nada de democracia.
Eu mesmo, que combati o regime militar que se instalou no Brasil em 1964, não tinha a menor idéia da democracia como valor, nada sabia de seus pressupostos e sequer imaginava suas relações intrínsecas com os padrões de organização em rede e com as mudanças sociais que hoje interpretamos como desenvolvimento ou sustentabilidade. Se tivéssemos vencido o combate que movemos contra o regime dos generais e coronéis que deram o golpe de 64, provavelmente não teríamos assistido à transição democrática de 1984-1989 e estaríamos vivendo hoje em um regime mais autocrático do que o atual (instalado por nós, por mim inclusive!). Sim, é fato: nós não estávamos convertidos à democracia.
De lá para cá, o quadro melhorou sensivelmente. Mas nos últimos anos, em especial, parece estar havendo um retrocesso considerável em relação às concepções e às práticas de democracia. Isso ocorre não apenas no Brasil, porém com mais intensidade ainda em outros países da América Latina (como a Venezuela, a Bolívia, o Equador e a Nicarágua). Por outro lado, não se vê reação democrática proporcional às ameaças à democracia que estão em curso no mundo atual.
Um movimento por uma Alfabetização Democrática
Já vamos findando a primeira década deste século e penso que chegou o momento de iniciar um movimento por uma “alfabetização democrática”. Essa idéia me ocorreu agora, dez anos depois de ler os escritos de Fritjof Capra sobre a necessidade de uma “Alfabetização Ecológica”.
Segundo Capra (1996), em “A teia da vida”, “reconectar-se com a teia da vida significa construir, nutrir e educar comunidades sustentáveis, nas quais podemos satisfazer nossas aspirações e nossas necessidades sem diminuir as chances das gerações futuras. Para realizar essa tarefa, podemos aprender valiosas lições extraídas do estudo dos ecossistemas, que são comunidades sustentáveis de plantas, de animais e de microorganismos. Para compreender essas lições, precisamos aprender os princípios básicos da ecologia. Precisamos nos tornar, por assim dizer, ecologicamente alfabetizados. Ser ecologicamente alfabetizado ou “eco-alfabetizado”, significa entender os princípios de organização das comunidades ecológicas (ecossistemas) e usar esses princípios para criar comunidades humanas sustentáveis” (6).
Capra parece ter razão. Diante das ameaças crescentes ao meio ambiente e da acelerada destruição da biodiversidade do planeta e, sobretudo agora, face à tragédia anunciada do aquecimento global, (quase) ninguém ousaria desqualificar suas preocupações.
Aliás, apenas uma década depois de ter apresentado a idéia, pode-se dizer que Capra já teve sucesso (pelo menos parcialmente) em seu empreendimento. A idéia de uma alfabetização ecológica vem se disseminando em todos os lugares. De tal modo foi incorporada à preocupação com o meio ambiente, inclusive na educação escolar fundamental, que nossos filhos e netos, não raro, são os primeiros a chamar nossa atenção para comportamentos, por assim dizer, não-sustentáveis do ponto de vista ecológico ou ambiental.
No entanto, o mesmo não ocorre em relação a outro campo de ação coletiva que interfere decisivamente na sustentabilidade das sociedades humanas: a política democrática.
Já existem milhares de organizações ambientalistas, defensoras da ecologia, mas podem ser contadas nos dedos organizações que se dediquem a divulgar e a defender a democracia (sobretudo no sentido “forte” do conceito). Se existe o embrião de uma educação voltada à ecologia, ainda não há nada como uma educação voltada para a democracia. As populações são praticamente analfabetas (ou semi-analfabetas) no que tange à compreensão dos pressupostos, dos princípios, do significado estratégico e do valor da democracia. Recentes pesquisas de opinião sobre a importância da democracia (sobretudo nos países da América Latina, como as que vêm sendo realizadas pelo Latinobarômetro) revelam que a maioria das pessoas não encontra qualquer razão para afirmar que a democracia seja preferível a outros regimes ou a outros modos de regulação de conflitos.
Somos capazes de entender e tentar orientar nossas ações pelos seis princípios básicos da ecologia propostos por Capra ‘interdependência’, ‘reciclagem’, ‘parceria’, ‘flexibilidade’ e ‘diversidade’: e a ‘sustentabilidade’ (ambiental) como conseqüência de todos eles – mas ainda não somos capazes de absorver a ‘aceitação da legitimidade do outro’, a ‘liberdade e a valorização da opinião’ e o ‘exercício da conversação na praça’ como princípios capazes de orientar a regulação dos conflitos em que nos envolvemos, norteando por eles a nossa prática política cotidiana. E, muito menos ainda, somos capazes de perceber as relações intrínsecas entre democracia e desenvolvimento ou os nexos conotativos entre democracia e sustentabilidade.
Sim, do ponto de vista da sustentabilidade global – do meio ambiente planetário e das sociedades humanas – democracia é tão importante quanto ecologia. Mas nem os próprios ecologistas parecem compreender isso. Muito alfabetizados em termos ecológicos, não o são tanto assim em termos democráticos.
Vou dar um exemplo: enquanto todos estão lendo o interessante livro de Al Gore (2006), "Uma verdade inconveniente: o que devemos saber (e fazer) sobre o aquecimento global", fui reler o já antigo "Gaia: cura para um planeta doente", de James Lovelock (1991, reeditado em 2004). Trata-se de um texto científico (polêmico, controverso) de fronteira. A tese de Lovelock (que nada tem a ver com o novo "fundamentalismo verde") é a de que uma parte de Gaia, composta pelo "restante da criação... moverá inconscientemente a própria Terra para um novo estado, um estado no qual nós, seres humanos, poderemos não mais ser bem-vindos" (7).
Sou um admirador de Lovelock. Sua hipótese Gaia (em co-autoria com Lynn Margulis) – a de que "a vida ou a biosfera regula ou mantém o clima e a composição atmosférica em um nível ideal para si mesma" – tem um enorme potencial heurístico, embora alguns tenham dela retirado conclusões que não podem ser autorizadas pela ciência (e. g. todas aquelas que atribuem um propósito à auto-regulação planetária). Mas ainda estou em dúvida sobre os juízos políticos que Lovelock deriva de uma espécie de determinismo biológico fatal. É assim que, em um prefácio de 2004, ele faz um apelo a todos os ambientalistas "para que ponham de lado os seus temores sem fundamento [por exemplo, em relação ao progresso científico-técnico na sintetização de alimentos ou na utilização da energia nuclear] e a sua obsessão exclusiva em relação aos direitos humanos". Essa é uma conclusão, digamos, no mínimo temerária, em um tipo de civilização como a que vivemos. "Sejamos corajosos o bastante [exorta Lovelock] para reconhecer que a verdadeira ameaça provém dos danos que causamos ao ser vivo que é a Terra, da qual fazemos parte, e que é realmente o nosso lar" (8). Sim, mas essa não é a única "verdadeira ameaça"; estamos diante de várias outras ameaças, que não podem ser consideradas como não tão verdadeiras.
Lovelock endossa as palavras do seu cientista-chefe, Sir David King, que declarou, no início de 2004, nos Estados Unidos, "que o aquecimento global é uma ameaça maior do que o terrorismo". Talvez até seja, mas isso não pode desviar nossa atenção das ameaças à democracia e ao desenvolvimento humano e social sustentável que são tão verdadeiras e tão presentes quanto a ameaça do aquecimento do planeta.
Não é uma questão de comparar os riscos. É claro que o desaparecimento da espécie humana anulará todas as preocupações humanas. Mas de certo modo, algum dia, nossa espécie desaparecerá mesmo: pelo menos neste planeta, com a extinção do sol; ou neste universo, com o Big Crunch. No entanto, penso que estamos construindo um outro mundo, um mundo humano, que tem como base o mundo natural (Gaia, na visão de Lovelock) mas que não é conseqüência do mundo natural. A tentativa humana de humanizar o mundo (ou de humanizar a "alma do mundo" por meio do ‘social’) é uma espécie de segunda criação... Para quem pensa assim, a vida é um valor principal, mas não o único: os padrões de convivência social, além da vida (biológica), também constituem valores inegociáveis, quero dizer, valores que não podem ser trocados pelo primeiro.
Em outras palavras, não podemos esquecer tudo - sobretudo a democracia e o desenvolvimento humano e social - para nos concentrarmos agora somente na tentativa de retardar o desaparecimento biológico da espécie. Não vale ser salvo da destruição prematura para viver em um mundo desumanizante, em que as sociedades humanas – no que têm de mais promissor: a sua capacidade de humanizar o mundo – não serão sustentáveis. Assim, penso que temos que cuidar das duas coisas, simultaneamente.
Ocorre que não cuidamos suficientemente da democracia. Antes de qualquer coisa porque continuamos analfabetos em termos democráticos. Então este “Alfabetização Democrática” é sobre isso: sobre a necessidade de compreender melhor a democracia para cuidar melhor da democracia.
Augusto de Franco, Inverno de 2007.
Notas
(1) Cf. Dewey, John (1939). “Creative Democracy: the task before us”in The Essential Dewey: Vol. 1 – Pragmatism, Education, Democracy. Indianapolis: Indiana University Press, 1998.
(2) Cf. Dewey, John (1927). The Public and its Problems. Chicago: Gataway Books, 1946 (existe edição em espanhol: La opinión pública y sus problemas. Madrid: Morata, 2004).
(3) CF. Dewey, John (1937). “Democracy is radical” in The Essential Dewey: Vol. 1 – Pragmatism, Education, Democracy. Indianapolis: Indiana University Press, 1998.
(4) Cf. Sen, Amartya (1999). “Democracy as a Universal Value”, Journal of Democracy: 10 (3); pp. 3-17.
(5) Segundo as estimativas de Robert Dahl (1998), em 1860, do total de 37 países apenas um era democrático, enquanto, em 1995, de 192 países, 65 poderiam ser considerados democráticos (tomando-se sobretudo o critério da existência de sufrágio masculino ou pleno sufrágio). Em termos percentuais, pulamos de 2,4% para 33,8%. Mas tal crescimento não foi sempre linear. De 1860 a 1990, contando por décadas, o número de países democráticos (segundo o critério “fraco”) aumentou, no período de um século e meio, segundo a progressão: 1: 2: 3: 4: 6: 8: 15: 22: 19: 25: 36: 40: 37: 65. Note-se que houve regressão do número absoluto de democracias como regimes eleitorais, na década de 1940 em relação à década de 1930 e na década de 1980 em relação à década de 1970. Mas em termos de porcentagens, em relação ao número total de países, poderíamos estabelecer uma relação, a partir da tabela de Dahl, como a seguinte: 1860 (2,7%); 1870 (5,1%); 1880 (7,3%); 1890 (9,5%); 1900 (13,9%); 1910 (16,7%); 1920 (29,4%); 1930 (34,4%); 1940 (29,2%); 1950 (33,3%); 1960 (41,4%); 1970 (33,6%); 1980 (30,6%); 1990 (33,8%). Nada disso, todavia, é muito revelador, sobretudo porquanto a criação de novos países se deu, em geral, por motivos que não têm necessariamente a ver com a expansão das democracias no mundo. De qualquer modo, em meados dos anos 90 do século passado estávamos, em termos percentuais, na mesma situação (na verdade um pouco abaixo) daquela que foi alcançada nos anos 30 (que só foi superada nos anos 60, logo seguida, porém, de forte regressão). Mas se houve algo como uma onda mundial de democratização no século 20, seus maiores saltos ocorreram nas três primeiras décadas (sobretudo na década de 1920 em relação à década de 1910), na passagem dos anos 50 para os anos 60 e na década de 1990. Cabe notar que houve forte regressão percentual (taxas negativas relativas) na década de 1940 em relação à década de 1930, na década de 1970 em relação à década de 1960 (a maior de todas) e na década de 1980 em relação à de 1970. Cf. Dahl, Robert (1998). Sobre a democracia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.
(6) Cf. Capra, Fritjof (2002). As conexões ocultas. São Paulo: Cultrix/Amana-Key, 2002.
(7) Cf. Lovelock, James (1991). Gaia: cura para um planeta doente. São Paulo: Cultrix, 2006.
(8) Idem.
INTRODUÇÃO
No sentido “forte” do conceito, a democracia não é um regime determinado, não é um modelo aplicável a várias circunstâncias, mas um movimento ou uma atitude constante de desconstituição de autocracia.
Um conceito “forte” de democracia
Não é possível conceituar democracia sem conceituar autocracia. E não é possível falar da autocracia sem falar da guerra. Como dizia a letra de uma antiga canção alemã, em uma frase que chegaria a ser cômica se não fosse trágica: “contra os democratas, somente os soldados ajudam”.
Em virtude de uma conjunção particularíssima – provavelmente fortuita – de variados fatores, sociedades humanas na Antiguidade lograram abrir uma brecha na cultura autocrática (patriarcal, hierárquica e guerreira), ensaiando pactos de convivência estabelecidos em redes de conversações entre iguais, que aceitavam a legitimidade do outro e valorizavam sua opinião e não apenas o seu conhecimento técnico ou o seu saber científico ou filosófico. Registros históricos apontam que isso aconteceu em cidades gregas, entre os anos 509 e 322 antes da Era Comum, mas não é improvável que tenha ocorrido também, de modo mais fugaz, em outras ocasiões e lugares (o relato profético da chamada Assembléia de Siquém, ocorrida na Palestina entre os séculos 12 e 11 (?) talvez constitua um indício importante nesse sentido). Assim surgiu a democracia como uma experiência de conversação em um espaço público, quer dizer, não privatizado pelo autocrata.
Do ponto de vista dos sistemas autocráticos, amplamente predominantes, a democracia – para usar uma expressão de Saint-Exupery, empregada em outro contexto (no livro “Correio Sul”) – foi “um erro no cálculo, uma falha na armadura...” devidamente corrigida nos dois mil anos seguintes à experiência dos gregos. Quando os modernos tentaram reinventá-la, só então se pôde perceber toda a força da tradição autocrática. Nos dois séculos posteriores às ousadias teóricas de Althusius (1603), Spinoza (1670) e Rousseau (1762) – que lançaram os fundamentos para a reinvenção da democracia pelos modernos: a idéia de política como vida simbiótica da comunidade, a idéia de liberdade como sentido da política e a idéia de democracia como regime político capaz de materializar o ideal de liberdade como autonomia –, os pensadores políticos posicionaram-se, em sua imensa maioria, francamente contra a democracia. O juízo de Burke (1790), segundo o qual “a democracia é a coisa mais vergonhosa do mundo”, é emblemático desse ânimo autocratizante que vigorou nos dois milênios anteriores à época em que reinventamos a democracia.
Quando, afinal, a democracia começou a ser reensaiada para valer pelos modernos, a política tornou-se palco de uma tensão permanente entre tendências de autocratização e de democratização da democracia.
Nada indica que essa tensão tenha desaparecido na contemporaneidade. Ainda que este seja um esquema explicativo, pode-se escrever a história da democracia como a história de um confronto, em que, de um lado, remanesciam as atitudes míticas, sacerdotais e hierárquicas que mantinham a tradicionalidade e, de outro, surgiam atitudes utópicas, proféticas e autônomas que fundaram a modernidade.
A brecha democrática não foi aberta de uma só vez. Ela foi aberta e fechada várias vezes. E continua, nos últimos dois séculos, sendo alargada e estreitada de modo intermitente. Desse ponto de vista, o que chamamos de democratização nada mais é do que o processo de alargamento dessa brecha.
Muito antes dos gregos, o principal movimento autocratizante foi a guerra. A guerra já era considerada pelos gregos como uma atividade não-democrática (a rigor, para eles, era uma realidade apolítica, como observou genialmente Hannah Arendt: c. 1950, em seus vários estudos “Sobre o sentido da política”, publicados postumamente) (1). No plano conceitual, guerra e democracia (ou política praticada ex parte populis) são originalmente incompatíveis.
Depois dos gregos, a guerra foi o meio universal de acabar com a política (democrática) ou de estreitar a brecha por ela aberta nos sistemas de dominação. Guerra como modo de regular conflitos e de alterar a morfologia e a dinâmica da rede social para se preparar para o conflito externo (por meio do chamado “estado de guerra”, instalado internamente) foi o meio pelo qual a tradicionalidade política pôde se prorrogar, não apenas derrotando inimigos de modo violento, mas também construindo continuamente tais inimigos com o intuito de preservar uma morfologia e uma dinâmica social que, erigida em função da guerra, constituiu-se como um complexo cultural. Usando-se uma metáfora contemporânea, trata-se de um programa (software) que foi instalado na rede social e adquiriu capacidade de modificar essa rede (hardware) para se auto-replicar.
A guerra sintetiza o contrário da democracia: nega-se a legitimidade do outro, desvaloriza-se sua opinião – a ponto de não se permitir sequer o seu proferimento – e abole-se totalmente os espaços (públicos) onde as opiniões dos cidadãos possam interagir e se polinizar mutuamente (por meio da conversação na praça, i. e., no espaço público).
Guerra, por sua própria natureza, impõe mitificação da história, sacerdotalização do saber e hierarquização das relações sociais. A visão da história passa a ser orientada pela idéia de que existe um homo hostilis (inerentemente competitivo) condenado a lutar eternamente para fazer prevalecer seus interesses (egotistas) sobre os dos demais. A visão do saber passa a ser orientada pela idéia de que o progresso humano é conseqüência do avanço tecnológico de um homo faber (fabricante de ferramentas, que logo serão usadas como armas); e daí a mitificação do conhecimento técnico, entronizado como critério meritocrático (sacerdotal porquanto baseado no segredo que introduz opacidade nos procedimentos e organizado em graus de ordenação, quer dizer, de capacidade de reproduzir uma determinada ordem). A visão do poder passa a ser orientada pela idéia de que existem formas de organização social que seriam “naturais” ou inevitáveis para o estabelecimento daquele controle social sem o qual a sociedade seria destruída por seus inimigos externos ou por seus próprios integrantes (na base da bellum omnium contra omnes estão as idéias de ordem top down, piramidal, como controle centralizado ou multicentralizado, de fluxo comando-execução, de disciplina e obediência, enfim, de poder como capacidade de mandar alguém fazer alguma coisa contra sua vontade). Tudo isso passa a valer não apenas como repertório de expedientes e providências para destruir o inimigo externo (ou para não ser por ele destruído), mas também como norma para reger a vida interna das sociedades, mesmo em tempos de paz (tempos esses que devem ser dedicados à preparação para a guerra, na linha do “se queres a paz, prepara-te para a guerra”, o que deixa claro que a guerra é promovida à condição de uma realidade inexorável ou onipresente). Neste parágrafo talvez estejam reunidos todos os elementos para uma conceituação da autocracia e, inversamente, da democracia.
Todavia, é óbvio que por força de suas conseqüências humanas, sociais e ambientais desastrosas, a guerra não pode ser bem-vista pelos cidadãos. Sem a guerra como instituição, porém, não há como manter as estruturas verticais de poder e as normas autocratizantes que a acompanham. Ademais, com a expansão da democratização, as guerras tendem a se reduzir; por exemplo, nações democráticas não costumam guerrear entre si. Essa é a principal contradição que vive a autocracia, visto que ela não pode subsistir sem a guerra.
Na ausência de guerra, o processo de autocratização seria logo suplantado pelo processo de democratização. É por isso que, a partir da modernidade, o ímpeto regressivo das tendências autocratizantes vem se manifestando não somente na guerra mas nas concepções e práticas políticas que tomam a política como uma espécie de ‘continuação da guerra por outros meios’.
É assim que, na época atual, o grande problema para a política democrática não é prioritariamente a guerra – conquanto ela continue sendo promovida por quistos autocráticos instalados em países democráticos contra países não-democráticos, por países não-democráticos contra países democráticos e por países não-democráticos entre si – mas o exercício da política como “arte da guerra” (essa sim, praticada universalmente como realpolitik).
O que se escreveu sobre a democracia
Do ponto de vista do conceito de democracia apresentado acima, é surpreendente o fato de termos tão pouca reflexão acumulada. É claro que mais surpreendente ainda é o fato de, depois da experiência dos gregos, a democracia ter retrocedido, não avançado. E que isso tenha ocorrido tanto na prática quanto na teoria.
Sobre o tema há, por certo, muitas controvérsias. Alguns tentam interpretar a República romana como uma versão (latina) da democracia (grega) (2). Mas, ao que tudo indica, não se trata exatamente da mesma coisa, visto que o sistema de governo com participação popular dos romanos não reunia aqueles três atributos – de isonomia, isologia e isegoria – que caracterizavam o funcionamento da comunidade (koinomia) política de Atenas e de outras cidades gregas do período democrático (509-322). Se encararmos a democracia, no seu sentido “fraco”, apenas como sistema de governo (popular) – e não, em seu sentido “forte”, como sistema de convivência ou modo de vida comunitária que, por meio da política praticada ex parte populis, regula a estrutura e a dinâmica de uma rede social – perceberemos que várias outras experiências surgiram concomitante e posteriormente à experiência dos gregos: Roma (do final do século 6 até meados do século 2), governos locais em cidades italianas (como Florença e Veneza, por exemplo, do início do século 12 até meados do século 14), bem como outras experiências endógenas de governo que admitiam alguma forma de assembléia com participação mais ou menos popular (na Inglaterra, na Escandinávia, nos Países Baixos, na Suiça e em outros pontos ao norte do Mediterrâneo). De qualquer modo, foram experiências insuficientes diante da tendência autocrática predominante. Na melhor das hipóteses, considerando-se a República romana como uma espécie de democracia, tivemos um interregno autocrático de mil anos (de 130 a. E. C. a 1.100). Na pior hipótese – que, não por acaso, é a mais precisa e a que faz mais sentido – esse intervalo foi de mais de dois mil anos (de 322 a. E. C. até o século 18).
Na teoria, ocorreu o mesmo. Além da falta de experiências suficientes de democracia, tivemos a falta de reflexão teórica sobre o tema. Boa parte da literatura política – inclusive a maior parte dos escritos sobre democracia – foi fortemente influenciada por idéias autocráticas. Basta ver que, com raras exceções, os mais conhecidos pensadores da política que surgiram desde Platão (e Sócrates, tanto o platônico, quanto o xenofôntico), passando pelos medievais e até pelos contemporâneos de Thomas Hobbes e seus sucessores (nas sete ou oito gerações seguintes), eram contrários à democracia.
Em uma lista inquestionável de duas dezenas de clássicos da política, do século 5 antes da Era Comum ao final do século 16 (de Platão a Althusius) não se encontra um só pensador democrático. Talvez com exceção, parcial, de Aristóteles e do próprio Althusius – posto que não militavam especialmente contra democracia – a totalidade desses pensadores era autocrática.
Quando Spinoza afirmou (em 1670) – contrariando Hobbes – que o fim da política não era a ordem e sim a liberdade, não se fez a luz. Assim como os antecessores de Spinoza (nos dois milênios anteriores) foram contrários à democracia de alguma forma, seus sucessores (nos dois séculos seguintes) quando não se posicionaram abertamente contra a democracia, puseram-se a relê-la de uma forma que acabou esvaziando o seu conteúdo. Até a segunda metade do século 18 não houve nenhuma leitura decente da democracia grega que tivesse resgatado ou preservado seus pressupostos fundamentais (o seu “gene” ou meme) do ponto de vista do conceito exposto na seção anterior desta Introdução. Na verdade, de Althusius (1603) a Stuart Mill (1861) não conhecemos muito mais que meia dúzia de pensadores políticos que tivesse, desse ponto de vista, contribuído decisivamente para recuperar e reinterpretar, à luz das condições da modernidade, os elementos fundamentais da democracia dos antigos (a liberdade, a igualdade de proferimento e a valorização da opinião e o exercício da conversação no espaço público).
Entre os clássicos da política, do século 6 antes da Era Comum até a metade do século 20, quer dizer, dos democratas atenienses até Hannah Arendt, não temos, por incrível que pareça, muitas reflexões sobre a democracia (no sentido “forte” do conceito). Embora se possa situar o surgimento da democracia no final do século 6, a partir da reforma de Clístenes (509), os escritos sobre a democracia só vão aparecer realmente no século 5. Ésquilo, em “Os Persas” (472), afirma a liberdade dos atenienses (oposta à servidão daqueles que têm um senhor). Mas é com Eurípedes, em “As Suplicantes” (422), que surge, pela primeira vez, um conceito mais acabado de democracia (tomando como modelo Atenas, com a descrição de alguns de seus mecanismos, como a assembléia democrática, por exemplo).
Do século 6, portanto, não temos nada, apenas notícias da legislação introduzida por Sólon: conquanto esse seja um marco importante para o desenvolvimento ulterior da democracia, não há ainda propriamente uma teoria democrática, senão menções e delineamentos esparsos que surgem nos gêneros literários da história e da tragédia. Fora do mundo grego, há um livro importante que provavelmente surgiu nessa época (ou um pouco antes): o “Tao-te King” de Lao Tzu (c. 604 a. E. C.), mas somente com muito esforço interpretativo (e alguma inspiração) podemos encontrar em suas páginas um pensamento compatível com a idéia posterior de democracia. Embora pareça haver de fato algo muito profundamente democrático em Lao Tzu – na medida em que, para ele, a paz é o caminho, tanto em termos individuais quanto coletivos – é difícil, muito difícil, estabelecer uma relação entre essa raiz conceitual e as formas que a democracia veio a assumir em Atenas.
Do século 5, temos dois textos que poderiam ser considerados como discursos políticos, ambos autocráticos: “A Arte da Guerra” (c. 500) de Sun Tzu; e “Os Analectos” de Confúcio (c. 490). E, é claro, o já mencionado “As Suplicantes” (422) de Eurípedes. E do século 4, temos Platão (427-347): “A República”, “O Político” e “As Leis” (que não são obras favoráveis à democracia; pelo contrário). E temos também Aristóteles (383-322): “A Política” e “A Constituição de Atenas”.
Dos séculos 3 e 2, para não dizer que não temos nada, registra-se, com alguma boa vontade, apenas um clássico, de Han Fei Zi (280-234 a. E. C.): “A Arte da Política (Os homens e a lei)”, mas nada há, como é óbvio, de democrático ou de compatível com a democracia nesse texto. E do século 1 antes da Era Comum, temos apenas Cícero (106-43 a. E. C.): “De Republica”, “De Legibus” e “De Officiis” (o que não é pouca coisa, mas igualmente não recupera o conceito original de democracia no seu sentido “forte”).
Dos séculos 2 a 12 da nossa era, não conhecemos absolutamente nada. Do século 13, temos somente Tomás de Aquino (1225-1274): “De Regimine Principum” (longe, muito longe da idéia de democracia). E do século 14, temos Dante Alighieri: “De Monarchia” (1312); e Marcílio de Pádua: “Defensor Pacis” (1324).
Do século 15, não temos nada significativo. E do século 16, temos cinco pensadores clássicos, nenhum deles democrático; pelo contrário. São os casos de Maquiavel: “O Príncipe” (1513) e “Discursos sobre a primeira década de Tito Livio” (1519); Thomas Morus: “A Utopia” (1516); La Boétie: “Discurso da servidão voluntária” (1548); Francesco Guicciardini: “Recordações Políticas e Civis” (1576); Jean Bodin: “Os Seis Livros do Estado (ou da República)” (1576); e Giovanni Botero: “A Razão de Estado” (1589).
No século 17, afinal, surgiram alguns pensadores que lançaram as bases para uma reinvenção da democracia pelos modernos, como Althusius: “Política” (1603);. e Spinoza: “Tratado Teológico-Político” (1670) e “Tratado Político” (1677). Mas a maior parte da literatura clássica sobre política conhecida desse século não é democrática nem compatível com a democracia no sentido “forte” do conceito, como se pode ver em Tommaso Campanella: “A Cidade do Sol” (1602); Grotius: “De iuri belli ac pacis” (1625); Richelieu: “Testamento político” (c. 1632-1639); Baltazar Gracián :“A Arte da Prudência” (1647); Hobbes: “De cive” (1642) e “Leviatã” (1651); Cardeal Mazarin: “Breviário dos Políticos” (1683); Leibniz: “Elementa iuris naturalis” (1688); e Locke: “Dois Tratados sobre o Governo” (1690) – com exceção deste último (3).
Do século 18 cabe destacar alguns pensadores (e o network da Filadélfia), começando com Rousseau: “Discurso sobre a origem da desigualdade dos homens” (1754) e “O contrato social” (1762); passando por Thomas Jefferson e pela “Declaração de Independência dos Estados Unidos da América” (1776), por “Publios” (Alexander Hamilton, John Jay e James Madison): “O Federalista” (1787-1788), em especial Madison em um comentário sobre a Constituição dos Estados Unidos (1787); e chegando a Thomas Paine: “Direitos do Homem” (1791). Mas com a possível exceção de Montesquieu: “O Espírito das Leis” (1749) e de algum outro, constata-se ainda uma forte influência autocrática na maioria dos pensadores desse período, como François de Callières: “Como negociar com Príncipes” (1716); Hume: “Investigação sobre o Entendimento Humano” (1748); Beccaria: “Dos Delitos e das Penas” (1764); Sieyès: “O que é o Terceiro Estado” (1789); a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” (1789); Bentham: “Introdução aos princípios da moral e da legislação” (1789); Burke: “Reflexões sobre a Revolução Francesa” (1790); von Humbolt: “Ensaio sobre os limites da atividade do Estado” (1792); e Kant: “A paz perpétua” (1795) e “Metafísica dos Costumes” (1797).
Foi somente no século 19 que começaram a aparecer, em maior quantidade, as sementes de um pensamento realmente democrático no sentido “forte” do conceito (por exemplo, com Tocqueville, Stuart Mill e alguns outros), mesmo assim ainda é um pensamento cercado por todos os lados por idéias autocráticas. Registram-se como clássicos desse período, Ficht: “Discursos à Nação Alemã” (1808); Bentham: “Sofismas Políticos” (1816); Benjamin Constant: “Princípios da política” (1815) e “Discurso sobre a Liberdade dos Antigos Comparada com a dos Modernos” (1819); Hegel: “Princípios de Filosofia do Direito” (1821); Carl von Clausewitz: “Da Guerra” (1832); Tocqueville: “A Democracia na América” (1835) e “O Antigo Regime e a Revolução” (1856); Proudhon: “O que é a Propriedade” (1840); Marx: “Crítica da filosofia hegeliana do direito” (1843) e “A questão judaica” (1843); Thoreau: “Desobediência Civil” (1849); Stuart Mill: “Sobre a Liberdade” (1859) e “Sobre o Governo Representativo” (1861); e Mosca: “Elementos de Ciência Política” (1896).
Assim chegamos ao século 20. Mas se incluirmos na categoria de ‘clássicos’ apenas os escritos políticos surgidos até meados daquele século, perceberemos que não tivemos uma grande profusão de idéias e teorias democráticas. Com exceção de John Dewey e Hannah Arendt, ainda há um ranço de concepções autocráticas nos principais pensadores políticos dessa época, mesmo naqueles que professam convicções democráticas e tratam precipuamente da democracia, como Sorel: “Reflexões sobre a Violência” (1908); Croce: “Filosofia da Prática” (1909); Michels: “Os partidos políticos: ensaios sobre as tendências oligárquicas das democracias” (1911); Gentile: “Fundamentos da Filosofia do Direito” (1916); Pareto: “As Transformações da Democracia” (1919); Weber: “Economia e Sociedade” (1922); Dewey: “O Público e seus Problemas” (1927), “Velho e novo individualismo” (1929), “Liberalismo e ação social” (1935), “A democracia é radical” (1937) e “Democracia criativa: a tarefa que temos pela frente” (1939); Carl Schmitt: “O Conceito do Político” (1932); Horkheimer: “Teoria tradicional e teoria crítica” (1937) e “O Estado autoritário” (1942); Schumpeter: “Capitalismo, socialismo e democracia” (1942); Hayek: “O caminho da servidão” (1944); Polanyi: “A Grande Transformação” (1944); Kelsen: “Teoria geral do Direito e do Estado” (1945) e “Os Fundamentos da Democracia” (1955); Gramsci: “Cadernos do Cárcere” (1947); e Hannah Arendt: “O que é a política?” (1950), “As Origens do Totalitarismo” (1951), “Que é liberdade” (1954), “A condição humana” (1958) e “Sobre a revolução” (1963). Nesse período, cabe destacar também, foram lançados os fundamentos do atual pensamento autocrático disfarçado de democrático próprio das chamadas esquerdas contemporâneas, em virtude de uma fusão pragmática da visão de Schmitt (realpolitik) com a de Gramsci (conquista de hegemonia).
Diante desse quadro pode-se afirmar que não perderá muita coisa do “gene” (ou do meme) da democracia (no sentido “forte” do conceito) quem refizer a trajetória dos clássicos costurando uma abreviadíssima seqüência como a seguinte: (1º) Os democratas de Atenas (Clístenes, Péricles, Temístocles, Protágoras, Polícrates et coetera, do que se pode inferir de seus pensamentos valendo-se da leitura da história, da oração fúnebre, da tragédia e da filosofia – em especial pela via de seus críticos, como Platão e o Sócrates platônico) => (2º) Althusius => (3º) Spinoza => (4º) Rousseau => (5º) “Públius” (Alexander Hamilton, John Jay e James Madison) => (6º) Paine => (7º) Tocqueville => (8º) Mill => (9º) Dewey => (10º) Arendt. Ou seja, para absorver a idéia de democracia no sentido “forte” (ou “a democracia como idéia”, como queria Dewey) – e essa é uma constatação para lamentar, conquanto a afirmação seja polêmica, sobretudo aos olhos dos que gostam de historicizar o conceito de democracia até que dele se esvaia todo o conteúdo substantivo – é necessário mais não-ler do que ler os clássicos.
Há muita coisa significativa que poderia ser considerada no século 19 e no século 20, como os escritos utopistas, anarquistas e socialistas (Fourier, Owen, Engels, Bakunin, Kropotkin, Kautski, Lênin, Trostski, Rosa Luxemburgo, Kollontai, Korsch, Lukács, e vários outros), mas – do ponto de vista da democracia, tanto em seu sentido “fraco”, quanto em seu sentido “forte” – não há, vamos dizer assim, grandes contribuições à teoria da democracia nesses autores. Na segunda metade do século 20, entretanto, sobretudo no seu terceiro quarto, surgiram obras importantes, como Sartori: “Democracia e definição” (1957) e “A teoria democrática revisitada” (1987); Aron: “Paz e guerra entre as nações” (1962) e “Democracia e totalitarismo” (1965); Berlin: “Quatro ensaios sobre a liberdade” (1969); Macpherson: “Teoria democrática” (1973) e “A democracia liberal e sua época” (1977); Clastres: “A sociedade contra o Estado” (1974) et coetera.
Do final do século 20, já dentre os contemporâneos (assim considerados os que publicaram nos últimos 25 anos ou no tempo da presente geração), temos aparentemente muita coisa. Mas apenas aparentemente. De fundamental mesmo, temos Lefort: “A invenção democrática: os limites da dominação totalitária” (1981); Bobbio: “Ética e Política” (1984), “O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo” (1984) e “Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política” (1985); Ágnes Heller (com Ferenc Feher) com vários textos, como os consolidados nas coletâneas: “Anatomia da esquerda ocidental” (1985) e “A condição política pós-moderna” (1987); Huntington: “A terceira onda” (1991); Przeworski: “Capitalism and Social Democracy” (1985) e “Democracy and the market” (1991); Amartya Sen: “Desigualdade reexaminada” (1992), “Liberdades e necessidades” (1994), “Democracia como um valor universal” (1999) e “Desenvolvimento como liberdade” (1999); Jürgen Habermas: “Facticidade e validez” (1992) e “Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy” (1996); John Rawls: “O liberalismo político” (1993); Robert Dahl: “A democracia e os seus críticos” (1989) e “Sobre a democracia” (1998); e Cornelius Castoriadis: “Sobre ‘O Político’ de Platão” (edição póstuma de seminários realizados em 1986) (1999). Temos ainda uma extensa literatura engajada no debate atual sobre a democracia direta, participativa e deliberativa, da qual podem ser citados, como exemplos significativos, Gutman: “Liberal Equality” (1980) e “Democratic Education” (1987); Barber: “Strong democracy: participatory politics for a New Age” (1984); Burnheim: “Is democracy possible? The alternative to electoral politics” (1985); Fishkin: “Democracy and deliberation” (1991) e “The voice of the people: public opinion and democracy” (1997); Sunstein: “The Partial Constitution” (1993); Andrew Arato & Jean Cohen: “Civil Society and Political Theory” (1994); Hirst: “Associative Democracy: new forms of social and economic governance” (1994); Bohman: “Public Deliberation” (1996); Budge: “The new challenge of direct democracy” (1996); Nino: “The Constitution of Deliberative Democracy” (1996); Chantal Mouffe: “The return of the Political” (1993) e “The Democratic Paradox” (2000); Walzer: “On toleration” (1997) e Joshua Cohen: “Procedure and Substance in Deliberative Democracy” (1996) e “Democracy and Liberty” (1998).
Temos, por último, algumas coisas mais promissoras, como os trabalhos sobre os pressupostos cooperativos da democracia (no sentido “forte” do conceito) de Humberto Maturana: “Biología del fenómeno social” (1985), “Herencia y medio ambiente” (com Jorge Luzoro) (1985), “Ontología del Conversar” (1988), “Lenguaje y realidad: el origen de lo humano” (1988), “Una mirada a la educación actual desde la perspectiva de la biología del conocimiento” (1988), “Lenguaje, emociones y ética en el quehacer político” (1988), “El sentido de lo humano” (1991), “Amor y Juego: fundamentos olvidados de lo humano – desde el Patriarcado a la Democracia” (com Gerda Verden-Zöller) (1993) e “La democracia es una obra de arte” (s. /d). E algumas boas tentativas de recuperar o pensamento político de Dewey, como a de Axel Honneth: “Democracia como cooperação reflexiva. John Dewey e a teoria democrática hoje” (1998) (4).
No século 21, há muita gente que ainda continua ancorada no século 20 (ou no 19). Remanesce aquela curiosa corrente gramsciana (surgida na década passada) de defensores da democracia participativa ou deliberativa (supostamente a favor do povo) contra a democracia representativa liberal (das elites, supostamente contra o povo) – composta, por mais contraditório que isso possa parecer, por ‘pensadores da democracia não convertidos à democracia’ – que permanece trabalhando com o autocrático conceito de hegemonia. Mas há também uma antecipadora usinagem das sementes de um novo pensamento democrático que, embora tenha começado a se manifestar nos últimos anos do século passado, já estava voltada para o futuro. Entram aqui as formulações sobre democracia digital ou democracia em tempo real (cyberdemocracy), as investigações sobre a inteligência coletiva e sobre a emergência (sobretudo nos estudos sobre as sociedades como sistemas complexos adaptativos), as reflexões sobre as inovações políticas ensaiadas em redes comunitárias de desenvolvimento e a chamada pluriarquia ou a democracia em redes sociais distribuídas (peer-to-peer). Incluem-se nessa categoria as teorias do capital social que brotaram nos anos 90 e o chamado netweaving (uma criação do final da primeira metade da década atual) (5).
Quem quiser dar continuidade à sua formação clássica do ponto de vista do conceito (“forte”) de democracia esboçado na primeira seção desta introdução, deveria se concentrar, basicamente, em John Dewey, Hannah Arendt e Humberto Maturana. Dos clássicos, vale a pena considerar, além dos já citados Dewey e Arendt, em especial Aristóteles (confrontado com Platão), Althusius (confrontado com Jean Bodin), Spinoza (confrontado com Hobbes), Rousseau, Madison e Paine (confrontado com Burke), Tocqueville e Stuart Mill. Mas as novas teorias democráticas capazes de recuperar o meme democrático original e reinterpretá-lo à luz das condições do século 21 ainda estão por ser elaboradas.
Aprender democracia é desaprender autocracia
Não basta, porém, conhecer as reflexões teóricas sobre as diversas experiências de democracia e as teorias normativas inspiradas por tais reflexões. A democracia não é um regime determinado, não é um modelo aplicável a várias circunstâncias, mas um movimento ou uma atitude constante de desconstituição de autocracia. Assim, segundo o conceito (“forte”) de democracia apresentado aqui, aprender democracia é desaprender autocracia.
Uma das posturas mais importantes na formação de lideranças para o exercício da política democrática é aprender a perceber os sinais da mentalidade e das práticas autoritárias e os sintomas dos processos de autocratização da política. Não se trata apenas de conhecer as teorias e o que disseram os clássicos da chamada ciência política sobre o assunto. Trata-se da capacidade de identificar padrões, o que faz parte daqueles conhecimentos tácitos da “arte” da política que devem ser adquiridos pela observação atenta da própria experiência e das experiências alheias.
Pequeno ou grande, o poder autoritário se comporta sempre de maneira semelhante. Não importa se o agente não convencido do valor da democracia está dirigindo uma pequena ONG de bairro, um partido ou um governo. Há um padrão de comportamento que se faz presente em todas as práticas antidemocráticas e que se revela como poder de obstruir, separar e excluir. Nos casos mais exacerbados, o poder exercido de tal maneira pode perseguir, prender, torturar e matar, só não o fazendo, em muitas situações, em virtude da falta de condições para tanto.
Um processo de formação política democrática deveria contemplar o estudo cuidadoso desse “padrão Darth Vader” (para usar a excelente metáfora da série “Star Wars”, de George Lucas). Nesse sentido, pode-se aprender muito lendo, por exemplo, Ryszard Kapuscinski: “Cesarz” (1978), que foi publicado no Brasil sob o título “O Imperador: a queda de um autocrata”. Por meio de uma narrativa impressionante, baseada em entrevistas feitas pelo autor – o jornalista polonês Kapuscinski – com antigos colaboradores de Hailé Selassié I, ele descreve os bastidores do palácio do tirano que governou a Etiópia por 44 anos (6). Ou com Simon Sebag Montefiore: “Stálin: a corte do czar vermelho” (2003), também baseado em entrevistas feitas pelo jornalista Montefiore com os sobreviventes e os descendentes da era stalinista e em pesquisas em cartas e outros documentos que só recentemente foram liberados, o livro descreve a intimidade do poder despótico que até há pouco era meio desconhecida, revelando a sua face brutal (7). Ou, ainda, com Jung Chang e Jon Halliday: “Mao: a história desconhecida” (2005), no qual Chang (já conhecida pelo seu excelente “Cisnes selvagens”) e seu marido Halliday, empreenderam uma pesquisa monumental para descrever a outra face da vida de Mao Tse-Tung, que – segundo a palavra dos autores – “durante décadas deteve o poder absoluto sobre a vida de um quarto da população mundial e foi responsável por bem mais de 70 milhões de mortes em tempos de paz, mais do que qualquer outro líder do século 20” (8). Este último é, de todos, o livro mais impressionante que talvez já tenha sido escrito sobre as conseqüências maléficas da direção do Estado nas mãos de um líder determinado a conquistar e a manter o poder a qualquer custo (9).
Um conceito “forte” de democracia
Não é possível conceituar democracia sem conceituar autocracia. E não é possível falar da autocracia sem falar da guerra. Como dizia a letra de uma antiga canção alemã, em uma frase que chegaria a ser cômica se não fosse trágica: “contra os democratas, somente os soldados ajudam”.
Em virtude de uma conjunção particularíssima – provavelmente fortuita – de variados fatores, sociedades humanas na Antiguidade lograram abrir uma brecha na cultura autocrática (patriarcal, hierárquica e guerreira), ensaiando pactos de convivência estabelecidos em redes de conversações entre iguais, que aceitavam a legitimidade do outro e valorizavam sua opinião e não apenas o seu conhecimento técnico ou o seu saber científico ou filosófico. Registros históricos apontam que isso aconteceu em cidades gregas, entre os anos 509 e 322 antes da Era Comum, mas não é improvável que tenha ocorrido também, de modo mais fugaz, em outras ocasiões e lugares (o relato profético da chamada Assembléia de Siquém, ocorrida na Palestina entre os séculos 12 e 11 (?) talvez constitua um indício importante nesse sentido). Assim surgiu a democracia como uma experiência de conversação em um espaço público, quer dizer, não privatizado pelo autocrata.
Do ponto de vista dos sistemas autocráticos, amplamente predominantes, a democracia – para usar uma expressão de Saint-Exupery, empregada em outro contexto (no livro “Correio Sul”) – foi “um erro no cálculo, uma falha na armadura...” devidamente corrigida nos dois mil anos seguintes à experiência dos gregos. Quando os modernos tentaram reinventá-la, só então se pôde perceber toda a força da tradição autocrática. Nos dois séculos posteriores às ousadias teóricas de Althusius (1603), Spinoza (1670) e Rousseau (1762) – que lançaram os fundamentos para a reinvenção da democracia pelos modernos: a idéia de política como vida simbiótica da comunidade, a idéia de liberdade como sentido da política e a idéia de democracia como regime político capaz de materializar o ideal de liberdade como autonomia –, os pensadores políticos posicionaram-se, em sua imensa maioria, francamente contra a democracia. O juízo de Burke (1790), segundo o qual “a democracia é a coisa mais vergonhosa do mundo”, é emblemático desse ânimo autocratizante que vigorou nos dois milênios anteriores à época em que reinventamos a democracia.
Quando, afinal, a democracia começou a ser reensaiada para valer pelos modernos, a política tornou-se palco de uma tensão permanente entre tendências de autocratização e de democratização da democracia.
Nada indica que essa tensão tenha desaparecido na contemporaneidade. Ainda que este seja um esquema explicativo, pode-se escrever a história da democracia como a história de um confronto, em que, de um lado, remanesciam as atitudes míticas, sacerdotais e hierárquicas que mantinham a tradicionalidade e, de outro, surgiam atitudes utópicas, proféticas e autônomas que fundaram a modernidade.
A brecha democrática não foi aberta de uma só vez. Ela foi aberta e fechada várias vezes. E continua, nos últimos dois séculos, sendo alargada e estreitada de modo intermitente. Desse ponto de vista, o que chamamos de democratização nada mais é do que o processo de alargamento dessa brecha.
Muito antes dos gregos, o principal movimento autocratizante foi a guerra. A guerra já era considerada pelos gregos como uma atividade não-democrática (a rigor, para eles, era uma realidade apolítica, como observou genialmente Hannah Arendt: c. 1950, em seus vários estudos “Sobre o sentido da política”, publicados postumamente) (1). No plano conceitual, guerra e democracia (ou política praticada ex parte populis) são originalmente incompatíveis.
Depois dos gregos, a guerra foi o meio universal de acabar com a política (democrática) ou de estreitar a brecha por ela aberta nos sistemas de dominação. Guerra como modo de regular conflitos e de alterar a morfologia e a dinâmica da rede social para se preparar para o conflito externo (por meio do chamado “estado de guerra”, instalado internamente) foi o meio pelo qual a tradicionalidade política pôde se prorrogar, não apenas derrotando inimigos de modo violento, mas também construindo continuamente tais inimigos com o intuito de preservar uma morfologia e uma dinâmica social que, erigida em função da guerra, constituiu-se como um complexo cultural. Usando-se uma metáfora contemporânea, trata-se de um programa (software) que foi instalado na rede social e adquiriu capacidade de modificar essa rede (hardware) para se auto-replicar.
A guerra sintetiza o contrário da democracia: nega-se a legitimidade do outro, desvaloriza-se sua opinião – a ponto de não se permitir sequer o seu proferimento – e abole-se totalmente os espaços (públicos) onde as opiniões dos cidadãos possam interagir e se polinizar mutuamente (por meio da conversação na praça, i. e., no espaço público).
Guerra, por sua própria natureza, impõe mitificação da história, sacerdotalização do saber e hierarquização das relações sociais. A visão da história passa a ser orientada pela idéia de que existe um homo hostilis (inerentemente competitivo) condenado a lutar eternamente para fazer prevalecer seus interesses (egotistas) sobre os dos demais. A visão do saber passa a ser orientada pela idéia de que o progresso humano é conseqüência do avanço tecnológico de um homo faber (fabricante de ferramentas, que logo serão usadas como armas); e daí a mitificação do conhecimento técnico, entronizado como critério meritocrático (sacerdotal porquanto baseado no segredo que introduz opacidade nos procedimentos e organizado em graus de ordenação, quer dizer, de capacidade de reproduzir uma determinada ordem). A visão do poder passa a ser orientada pela idéia de que existem formas de organização social que seriam “naturais” ou inevitáveis para o estabelecimento daquele controle social sem o qual a sociedade seria destruída por seus inimigos externos ou por seus próprios integrantes (na base da bellum omnium contra omnes estão as idéias de ordem top down, piramidal, como controle centralizado ou multicentralizado, de fluxo comando-execução, de disciplina e obediência, enfim, de poder como capacidade de mandar alguém fazer alguma coisa contra sua vontade). Tudo isso passa a valer não apenas como repertório de expedientes e providências para destruir o inimigo externo (ou para não ser por ele destruído), mas também como norma para reger a vida interna das sociedades, mesmo em tempos de paz (tempos esses que devem ser dedicados à preparação para a guerra, na linha do “se queres a paz, prepara-te para a guerra”, o que deixa claro que a guerra é promovida à condição de uma realidade inexorável ou onipresente). Neste parágrafo talvez estejam reunidos todos os elementos para uma conceituação da autocracia e, inversamente, da democracia.
Todavia, é óbvio que por força de suas conseqüências humanas, sociais e ambientais desastrosas, a guerra não pode ser bem-vista pelos cidadãos. Sem a guerra como instituição, porém, não há como manter as estruturas verticais de poder e as normas autocratizantes que a acompanham. Ademais, com a expansão da democratização, as guerras tendem a se reduzir; por exemplo, nações democráticas não costumam guerrear entre si. Essa é a principal contradição que vive a autocracia, visto que ela não pode subsistir sem a guerra.
Na ausência de guerra, o processo de autocratização seria logo suplantado pelo processo de democratização. É por isso que, a partir da modernidade, o ímpeto regressivo das tendências autocratizantes vem se manifestando não somente na guerra mas nas concepções e práticas políticas que tomam a política como uma espécie de ‘continuação da guerra por outros meios’.
É assim que, na época atual, o grande problema para a política democrática não é prioritariamente a guerra – conquanto ela continue sendo promovida por quistos autocráticos instalados em países democráticos contra países não-democráticos, por países não-democráticos contra países democráticos e por países não-democráticos entre si – mas o exercício da política como “arte da guerra” (essa sim, praticada universalmente como realpolitik).
O que se escreveu sobre a democracia
Do ponto de vista do conceito de democracia apresentado acima, é surpreendente o fato de termos tão pouca reflexão acumulada. É claro que mais surpreendente ainda é o fato de, depois da experiência dos gregos, a democracia ter retrocedido, não avançado. E que isso tenha ocorrido tanto na prática quanto na teoria.
Sobre o tema há, por certo, muitas controvérsias. Alguns tentam interpretar a República romana como uma versão (latina) da democracia (grega) (2). Mas, ao que tudo indica, não se trata exatamente da mesma coisa, visto que o sistema de governo com participação popular dos romanos não reunia aqueles três atributos – de isonomia, isologia e isegoria – que caracterizavam o funcionamento da comunidade (koinomia) política de Atenas e de outras cidades gregas do período democrático (509-322). Se encararmos a democracia, no seu sentido “fraco”, apenas como sistema de governo (popular) – e não, em seu sentido “forte”, como sistema de convivência ou modo de vida comunitária que, por meio da política praticada ex parte populis, regula a estrutura e a dinâmica de uma rede social – perceberemos que várias outras experiências surgiram concomitante e posteriormente à experiência dos gregos: Roma (do final do século 6 até meados do século 2), governos locais em cidades italianas (como Florença e Veneza, por exemplo, do início do século 12 até meados do século 14), bem como outras experiências endógenas de governo que admitiam alguma forma de assembléia com participação mais ou menos popular (na Inglaterra, na Escandinávia, nos Países Baixos, na Suiça e em outros pontos ao norte do Mediterrâneo). De qualquer modo, foram experiências insuficientes diante da tendência autocrática predominante. Na melhor das hipóteses, considerando-se a República romana como uma espécie de democracia, tivemos um interregno autocrático de mil anos (de 130 a. E. C. a 1.100). Na pior hipótese – que, não por acaso, é a mais precisa e a que faz mais sentido – esse intervalo foi de mais de dois mil anos (de 322 a. E. C. até o século 18).
Na teoria, ocorreu o mesmo. Além da falta de experiências suficientes de democracia, tivemos a falta de reflexão teórica sobre o tema. Boa parte da literatura política – inclusive a maior parte dos escritos sobre democracia – foi fortemente influenciada por idéias autocráticas. Basta ver que, com raras exceções, os mais conhecidos pensadores da política que surgiram desde Platão (e Sócrates, tanto o platônico, quanto o xenofôntico), passando pelos medievais e até pelos contemporâneos de Thomas Hobbes e seus sucessores (nas sete ou oito gerações seguintes), eram contrários à democracia.
Em uma lista inquestionável de duas dezenas de clássicos da política, do século 5 antes da Era Comum ao final do século 16 (de Platão a Althusius) não se encontra um só pensador democrático. Talvez com exceção, parcial, de Aristóteles e do próprio Althusius – posto que não militavam especialmente contra democracia – a totalidade desses pensadores era autocrática.
Quando Spinoza afirmou (em 1670) – contrariando Hobbes – que o fim da política não era a ordem e sim a liberdade, não se fez a luz. Assim como os antecessores de Spinoza (nos dois milênios anteriores) foram contrários à democracia de alguma forma, seus sucessores (nos dois séculos seguintes) quando não se posicionaram abertamente contra a democracia, puseram-se a relê-la de uma forma que acabou esvaziando o seu conteúdo. Até a segunda metade do século 18 não houve nenhuma leitura decente da democracia grega que tivesse resgatado ou preservado seus pressupostos fundamentais (o seu “gene” ou meme) do ponto de vista do conceito exposto na seção anterior desta Introdução. Na verdade, de Althusius (1603) a Stuart Mill (1861) não conhecemos muito mais que meia dúzia de pensadores políticos que tivesse, desse ponto de vista, contribuído decisivamente para recuperar e reinterpretar, à luz das condições da modernidade, os elementos fundamentais da democracia dos antigos (a liberdade, a igualdade de proferimento e a valorização da opinião e o exercício da conversação no espaço público).
Entre os clássicos da política, do século 6 antes da Era Comum até a metade do século 20, quer dizer, dos democratas atenienses até Hannah Arendt, não temos, por incrível que pareça, muitas reflexões sobre a democracia (no sentido “forte” do conceito). Embora se possa situar o surgimento da democracia no final do século 6, a partir da reforma de Clístenes (509), os escritos sobre a democracia só vão aparecer realmente no século 5. Ésquilo, em “Os Persas” (472), afirma a liberdade dos atenienses (oposta à servidão daqueles que têm um senhor). Mas é com Eurípedes, em “As Suplicantes” (422), que surge, pela primeira vez, um conceito mais acabado de democracia (tomando como modelo Atenas, com a descrição de alguns de seus mecanismos, como a assembléia democrática, por exemplo).
Do século 6, portanto, não temos nada, apenas notícias da legislação introduzida por Sólon: conquanto esse seja um marco importante para o desenvolvimento ulterior da democracia, não há ainda propriamente uma teoria democrática, senão menções e delineamentos esparsos que surgem nos gêneros literários da história e da tragédia. Fora do mundo grego, há um livro importante que provavelmente surgiu nessa época (ou um pouco antes): o “Tao-te King” de Lao Tzu (c. 604 a. E. C.), mas somente com muito esforço interpretativo (e alguma inspiração) podemos encontrar em suas páginas um pensamento compatível com a idéia posterior de democracia. Embora pareça haver de fato algo muito profundamente democrático em Lao Tzu – na medida em que, para ele, a paz é o caminho, tanto em termos individuais quanto coletivos – é difícil, muito difícil, estabelecer uma relação entre essa raiz conceitual e as formas que a democracia veio a assumir em Atenas.
Do século 5, temos dois textos que poderiam ser considerados como discursos políticos, ambos autocráticos: “A Arte da Guerra” (c. 500) de Sun Tzu; e “Os Analectos” de Confúcio (c. 490). E, é claro, o já mencionado “As Suplicantes” (422) de Eurípedes. E do século 4, temos Platão (427-347): “A República”, “O Político” e “As Leis” (que não são obras favoráveis à democracia; pelo contrário). E temos também Aristóteles (383-322): “A Política” e “A Constituição de Atenas”.
Dos séculos 3 e 2, para não dizer que não temos nada, registra-se, com alguma boa vontade, apenas um clássico, de Han Fei Zi (280-234 a. E. C.): “A Arte da Política (Os homens e a lei)”, mas nada há, como é óbvio, de democrático ou de compatível com a democracia nesse texto. E do século 1 antes da Era Comum, temos apenas Cícero (106-43 a. E. C.): “De Republica”, “De Legibus” e “De Officiis” (o que não é pouca coisa, mas igualmente não recupera o conceito original de democracia no seu sentido “forte”).
Dos séculos 2 a 12 da nossa era, não conhecemos absolutamente nada. Do século 13, temos somente Tomás de Aquino (1225-1274): “De Regimine Principum” (longe, muito longe da idéia de democracia). E do século 14, temos Dante Alighieri: “De Monarchia” (1312); e Marcílio de Pádua: “Defensor Pacis” (1324).
Do século 15, não temos nada significativo. E do século 16, temos cinco pensadores clássicos, nenhum deles democrático; pelo contrário. São os casos de Maquiavel: “O Príncipe” (1513) e “Discursos sobre a primeira década de Tito Livio” (1519); Thomas Morus: “A Utopia” (1516); La Boétie: “Discurso da servidão voluntária” (1548); Francesco Guicciardini: “Recordações Políticas e Civis” (1576); Jean Bodin: “Os Seis Livros do Estado (ou da República)” (1576); e Giovanni Botero: “A Razão de Estado” (1589).
No século 17, afinal, surgiram alguns pensadores que lançaram as bases para uma reinvenção da democracia pelos modernos, como Althusius: “Política” (1603);. e Spinoza: “Tratado Teológico-Político” (1670) e “Tratado Político” (1677). Mas a maior parte da literatura clássica sobre política conhecida desse século não é democrática nem compatível com a democracia no sentido “forte” do conceito, como se pode ver em Tommaso Campanella: “A Cidade do Sol” (1602); Grotius: “De iuri belli ac pacis” (1625); Richelieu: “Testamento político” (c. 1632-1639); Baltazar Gracián :“A Arte da Prudência” (1647); Hobbes: “De cive” (1642) e “Leviatã” (1651); Cardeal Mazarin: “Breviário dos Políticos” (1683); Leibniz: “Elementa iuris naturalis” (1688); e Locke: “Dois Tratados sobre o Governo” (1690) – com exceção deste último (3).
Do século 18 cabe destacar alguns pensadores (e o network da Filadélfia), começando com Rousseau: “Discurso sobre a origem da desigualdade dos homens” (1754) e “O contrato social” (1762); passando por Thomas Jefferson e pela “Declaração de Independência dos Estados Unidos da América” (1776), por “Publios” (Alexander Hamilton, John Jay e James Madison): “O Federalista” (1787-1788), em especial Madison em um comentário sobre a Constituição dos Estados Unidos (1787); e chegando a Thomas Paine: “Direitos do Homem” (1791). Mas com a possível exceção de Montesquieu: “O Espírito das Leis” (1749) e de algum outro, constata-se ainda uma forte influência autocrática na maioria dos pensadores desse período, como François de Callières: “Como negociar com Príncipes” (1716); Hume: “Investigação sobre o Entendimento Humano” (1748); Beccaria: “Dos Delitos e das Penas” (1764); Sieyès: “O que é o Terceiro Estado” (1789); a “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” (1789); Bentham: “Introdução aos princípios da moral e da legislação” (1789); Burke: “Reflexões sobre a Revolução Francesa” (1790); von Humbolt: “Ensaio sobre os limites da atividade do Estado” (1792); e Kant: “A paz perpétua” (1795) e “Metafísica dos Costumes” (1797).
Foi somente no século 19 que começaram a aparecer, em maior quantidade, as sementes de um pensamento realmente democrático no sentido “forte” do conceito (por exemplo, com Tocqueville, Stuart Mill e alguns outros), mesmo assim ainda é um pensamento cercado por todos os lados por idéias autocráticas. Registram-se como clássicos desse período, Ficht: “Discursos à Nação Alemã” (1808); Bentham: “Sofismas Políticos” (1816); Benjamin Constant: “Princípios da política” (1815) e “Discurso sobre a Liberdade dos Antigos Comparada com a dos Modernos” (1819); Hegel: “Princípios de Filosofia do Direito” (1821); Carl von Clausewitz: “Da Guerra” (1832); Tocqueville: “A Democracia na América” (1835) e “O Antigo Regime e a Revolução” (1856); Proudhon: “O que é a Propriedade” (1840); Marx: “Crítica da filosofia hegeliana do direito” (1843) e “A questão judaica” (1843); Thoreau: “Desobediência Civil” (1849); Stuart Mill: “Sobre a Liberdade” (1859) e “Sobre o Governo Representativo” (1861); e Mosca: “Elementos de Ciência Política” (1896).
Assim chegamos ao século 20. Mas se incluirmos na categoria de ‘clássicos’ apenas os escritos políticos surgidos até meados daquele século, perceberemos que não tivemos uma grande profusão de idéias e teorias democráticas. Com exceção de John Dewey e Hannah Arendt, ainda há um ranço de concepções autocráticas nos principais pensadores políticos dessa época, mesmo naqueles que professam convicções democráticas e tratam precipuamente da democracia, como Sorel: “Reflexões sobre a Violência” (1908); Croce: “Filosofia da Prática” (1909); Michels: “Os partidos políticos: ensaios sobre as tendências oligárquicas das democracias” (1911); Gentile: “Fundamentos da Filosofia do Direito” (1916); Pareto: “As Transformações da Democracia” (1919); Weber: “Economia e Sociedade” (1922); Dewey: “O Público e seus Problemas” (1927), “Velho e novo individualismo” (1929), “Liberalismo e ação social” (1935), “A democracia é radical” (1937) e “Democracia criativa: a tarefa que temos pela frente” (1939); Carl Schmitt: “O Conceito do Político” (1932); Horkheimer: “Teoria tradicional e teoria crítica” (1937) e “O Estado autoritário” (1942); Schumpeter: “Capitalismo, socialismo e democracia” (1942); Hayek: “O caminho da servidão” (1944); Polanyi: “A Grande Transformação” (1944); Kelsen: “Teoria geral do Direito e do Estado” (1945) e “Os Fundamentos da Democracia” (1955); Gramsci: “Cadernos do Cárcere” (1947); e Hannah Arendt: “O que é a política?” (1950), “As Origens do Totalitarismo” (1951), “Que é liberdade” (1954), “A condição humana” (1958) e “Sobre a revolução” (1963). Nesse período, cabe destacar também, foram lançados os fundamentos do atual pensamento autocrático disfarçado de democrático próprio das chamadas esquerdas contemporâneas, em virtude de uma fusão pragmática da visão de Schmitt (realpolitik) com a de Gramsci (conquista de hegemonia).
Diante desse quadro pode-se afirmar que não perderá muita coisa do “gene” (ou do meme) da democracia (no sentido “forte” do conceito) quem refizer a trajetória dos clássicos costurando uma abreviadíssima seqüência como a seguinte: (1º) Os democratas de Atenas (Clístenes, Péricles, Temístocles, Protágoras, Polícrates et coetera, do que se pode inferir de seus pensamentos valendo-se da leitura da história, da oração fúnebre, da tragédia e da filosofia – em especial pela via de seus críticos, como Platão e o Sócrates platônico) => (2º) Althusius => (3º) Spinoza => (4º) Rousseau => (5º) “Públius” (Alexander Hamilton, John Jay e James Madison) => (6º) Paine => (7º) Tocqueville => (8º) Mill => (9º) Dewey => (10º) Arendt. Ou seja, para absorver a idéia de democracia no sentido “forte” (ou “a democracia como idéia”, como queria Dewey) – e essa é uma constatação para lamentar, conquanto a afirmação seja polêmica, sobretudo aos olhos dos que gostam de historicizar o conceito de democracia até que dele se esvaia todo o conteúdo substantivo – é necessário mais não-ler do que ler os clássicos.
Há muita coisa significativa que poderia ser considerada no século 19 e no século 20, como os escritos utopistas, anarquistas e socialistas (Fourier, Owen, Engels, Bakunin, Kropotkin, Kautski, Lênin, Trostski, Rosa Luxemburgo, Kollontai, Korsch, Lukács, e vários outros), mas – do ponto de vista da democracia, tanto em seu sentido “fraco”, quanto em seu sentido “forte” – não há, vamos dizer assim, grandes contribuições à teoria da democracia nesses autores. Na segunda metade do século 20, entretanto, sobretudo no seu terceiro quarto, surgiram obras importantes, como Sartori: “Democracia e definição” (1957) e “A teoria democrática revisitada” (1987); Aron: “Paz e guerra entre as nações” (1962) e “Democracia e totalitarismo” (1965); Berlin: “Quatro ensaios sobre a liberdade” (1969); Macpherson: “Teoria democrática” (1973) e “A democracia liberal e sua época” (1977); Clastres: “A sociedade contra o Estado” (1974) et coetera.
Do final do século 20, já dentre os contemporâneos (assim considerados os que publicaram nos últimos 25 anos ou no tempo da presente geração), temos aparentemente muita coisa. Mas apenas aparentemente. De fundamental mesmo, temos Lefort: “A invenção democrática: os limites da dominação totalitária” (1981); Bobbio: “Ética e Política” (1984), “O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo” (1984) e “Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política” (1985); Ágnes Heller (com Ferenc Feher) com vários textos, como os consolidados nas coletâneas: “Anatomia da esquerda ocidental” (1985) e “A condição política pós-moderna” (1987); Huntington: “A terceira onda” (1991); Przeworski: “Capitalism and Social Democracy” (1985) e “Democracy and the market” (1991); Amartya Sen: “Desigualdade reexaminada” (1992), “Liberdades e necessidades” (1994), “Democracia como um valor universal” (1999) e “Desenvolvimento como liberdade” (1999); Jürgen Habermas: “Facticidade e validez” (1992) e “Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy” (1996); John Rawls: “O liberalismo político” (1993); Robert Dahl: “A democracia e os seus críticos” (1989) e “Sobre a democracia” (1998); e Cornelius Castoriadis: “Sobre ‘O Político’ de Platão” (edição póstuma de seminários realizados em 1986) (1999). Temos ainda uma extensa literatura engajada no debate atual sobre a democracia direta, participativa e deliberativa, da qual podem ser citados, como exemplos significativos, Gutman: “Liberal Equality” (1980) e “Democratic Education” (1987); Barber: “Strong democracy: participatory politics for a New Age” (1984); Burnheim: “Is democracy possible? The alternative to electoral politics” (1985); Fishkin: “Democracy and deliberation” (1991) e “The voice of the people: public opinion and democracy” (1997); Sunstein: “The Partial Constitution” (1993); Andrew Arato & Jean Cohen: “Civil Society and Political Theory” (1994); Hirst: “Associative Democracy: new forms of social and economic governance” (1994); Bohman: “Public Deliberation” (1996); Budge: “The new challenge of direct democracy” (1996); Nino: “The Constitution of Deliberative Democracy” (1996); Chantal Mouffe: “The return of the Political” (1993) e “The Democratic Paradox” (2000); Walzer: “On toleration” (1997) e Joshua Cohen: “Procedure and Substance in Deliberative Democracy” (1996) e “Democracy and Liberty” (1998).
Temos, por último, algumas coisas mais promissoras, como os trabalhos sobre os pressupostos cooperativos da democracia (no sentido “forte” do conceito) de Humberto Maturana: “Biología del fenómeno social” (1985), “Herencia y medio ambiente” (com Jorge Luzoro) (1985), “Ontología del Conversar” (1988), “Lenguaje y realidad: el origen de lo humano” (1988), “Una mirada a la educación actual desde la perspectiva de la biología del conocimiento” (1988), “Lenguaje, emociones y ética en el quehacer político” (1988), “El sentido de lo humano” (1991), “Amor y Juego: fundamentos olvidados de lo humano – desde el Patriarcado a la Democracia” (com Gerda Verden-Zöller) (1993) e “La democracia es una obra de arte” (s. /d). E algumas boas tentativas de recuperar o pensamento político de Dewey, como a de Axel Honneth: “Democracia como cooperação reflexiva. John Dewey e a teoria democrática hoje” (1998) (4).
No século 21, há muita gente que ainda continua ancorada no século 20 (ou no 19). Remanesce aquela curiosa corrente gramsciana (surgida na década passada) de defensores da democracia participativa ou deliberativa (supostamente a favor do povo) contra a democracia representativa liberal (das elites, supostamente contra o povo) – composta, por mais contraditório que isso possa parecer, por ‘pensadores da democracia não convertidos à democracia’ – que permanece trabalhando com o autocrático conceito de hegemonia. Mas há também uma antecipadora usinagem das sementes de um novo pensamento democrático que, embora tenha começado a se manifestar nos últimos anos do século passado, já estava voltada para o futuro. Entram aqui as formulações sobre democracia digital ou democracia em tempo real (cyberdemocracy), as investigações sobre a inteligência coletiva e sobre a emergência (sobretudo nos estudos sobre as sociedades como sistemas complexos adaptativos), as reflexões sobre as inovações políticas ensaiadas em redes comunitárias de desenvolvimento e a chamada pluriarquia ou a democracia em redes sociais distribuídas (peer-to-peer). Incluem-se nessa categoria as teorias do capital social que brotaram nos anos 90 e o chamado netweaving (uma criação do final da primeira metade da década atual) (5).
Quem quiser dar continuidade à sua formação clássica do ponto de vista do conceito (“forte”) de democracia esboçado na primeira seção desta introdução, deveria se concentrar, basicamente, em John Dewey, Hannah Arendt e Humberto Maturana. Dos clássicos, vale a pena considerar, além dos já citados Dewey e Arendt, em especial Aristóteles (confrontado com Platão), Althusius (confrontado com Jean Bodin), Spinoza (confrontado com Hobbes), Rousseau, Madison e Paine (confrontado com Burke), Tocqueville e Stuart Mill. Mas as novas teorias democráticas capazes de recuperar o meme democrático original e reinterpretá-lo à luz das condições do século 21 ainda estão por ser elaboradas.
Aprender democracia é desaprender autocracia
Não basta, porém, conhecer as reflexões teóricas sobre as diversas experiências de democracia e as teorias normativas inspiradas por tais reflexões. A democracia não é um regime determinado, não é um modelo aplicável a várias circunstâncias, mas um movimento ou uma atitude constante de desconstituição de autocracia. Assim, segundo o conceito (“forte”) de democracia apresentado aqui, aprender democracia é desaprender autocracia.
Uma das posturas mais importantes na formação de lideranças para o exercício da política democrática é aprender a perceber os sinais da mentalidade e das práticas autoritárias e os sintomas dos processos de autocratização da política. Não se trata apenas de conhecer as teorias e o que disseram os clássicos da chamada ciência política sobre o assunto. Trata-se da capacidade de identificar padrões, o que faz parte daqueles conhecimentos tácitos da “arte” da política que devem ser adquiridos pela observação atenta da própria experiência e das experiências alheias.
Pequeno ou grande, o poder autoritário se comporta sempre de maneira semelhante. Não importa se o agente não convencido do valor da democracia está dirigindo uma pequena ONG de bairro, um partido ou um governo. Há um padrão de comportamento que se faz presente em todas as práticas antidemocráticas e que se revela como poder de obstruir, separar e excluir. Nos casos mais exacerbados, o poder exercido de tal maneira pode perseguir, prender, torturar e matar, só não o fazendo, em muitas situações, em virtude da falta de condições para tanto.
Um processo de formação política democrática deveria contemplar o estudo cuidadoso desse “padrão Darth Vader” (para usar a excelente metáfora da série “Star Wars”, de George Lucas). Nesse sentido, pode-se aprender muito lendo, por exemplo, Ryszard Kapuscinski: “Cesarz” (1978), que foi publicado no Brasil sob o título “O Imperador: a queda de um autocrata”. Por meio de uma narrativa impressionante, baseada em entrevistas feitas pelo autor – o jornalista polonês Kapuscinski – com antigos colaboradores de Hailé Selassié I, ele descreve os bastidores do palácio do tirano que governou a Etiópia por 44 anos (6). Ou com Simon Sebag Montefiore: “Stálin: a corte do czar vermelho” (2003), também baseado em entrevistas feitas pelo jornalista Montefiore com os sobreviventes e os descendentes da era stalinista e em pesquisas em cartas e outros documentos que só recentemente foram liberados, o livro descreve a intimidade do poder despótico que até há pouco era meio desconhecida, revelando a sua face brutal (7). Ou, ainda, com Jung Chang e Jon Halliday: “Mao: a história desconhecida” (2005), no qual Chang (já conhecida pelo seu excelente “Cisnes selvagens”) e seu marido Halliday, empreenderam uma pesquisa monumental para descrever a outra face da vida de Mao Tse-Tung, que – segundo a palavra dos autores – “durante décadas deteve o poder absoluto sobre a vida de um quarto da população mundial e foi responsável por bem mais de 70 milhões de mortes em tempos de paz, mais do que qualquer outro líder do século 20” (8). Este último é, de todos, o livro mais impressionante que talvez já tenha sido escrito sobre as conseqüências maléficas da direção do Estado nas mãos de um líder determinado a conquistar e a manter o poder a qualquer custo (9).
Pode-se dizer que as tragédias desses regimes comandados por Selassié, Stálin e Mao são coisas muito distantes da situação em que vivem os países democráticos atuais. Mas as coisas não são bem assim. O “padrão Darth Vader” que se manifestou em alto grau no comportamento desses três autocratas pode também estar presente em outros líderes, pequenos ou grandes, muitas vezes não conseguindo se desenvolver em virtude de circunstâncias ambientais ou institucionais adversas. Tais circunstâncias, que decorrem de configurações sociais coletivas, quando são favoráveis à ereção de sistemas de dominação tendem a reforçar e a retroalimentar atitudes míticas diante da história, sacerdotais diante do saber, hierárquicas diante do poder e autocráticas diante da política. Toda vez que a rede social é obstruída, toda vez que se introduzem centralizações na teia de conexões ou de caminhos que ligam os nodos dessa rede distribuída, gera-se uma configuração mais favorável ao crescimento e a manifestação desse poder vertical que está no “DNA” da civilização patriarcal e guerreira. A democracia, como percebeu Humberto Maturana (1993), é uma brecha nesse paradigma civilizatório (10).
Compreendendo o que pode florescer em ambientes sociais fortemente centralizados e nos quais os modos de regulação de conflitos não são democráticos, podemos perceber os sinais e interpretar os sintomas do processo de autocratização da política onde quer que eles surjam, inclusive no interior de regimes formalmente democráticos. Pode-se, inclusive, aprender a detectar as tentativas contemporâneas de autocratização da democracia, baseadas no uso instrumental da democracia no sentido “fraco” do conceito (quer dizer, na utilização de alguns dos mecanismos, instituições e procedimentos da democracia representativa, como o sistema eleitoral), para enfrear o processo de democratização das sociedades, seja pela via da protoditadura (que se caracteriza, fundamentalmente, pela abolição legal ou de facto da rotatividade democrática), seja pelo emprego da manipulação em larga escala, como ocorre nas novas vertentes do populismo que vêm sempre acompanhadas do banditismo de Estado, da corrupção de Estado, da perversão da política e da degeneração das instituições por meio da privatização partidária da esfera pública e do aparelhamento da administração governamental (11).
De qualquer modo, para conhecer o poder vertical – a sua “anatomia” e a sua “fisiologia”, vamos dizer assim – devemos estudá-lo em estado puro (ou quase), como ocorreu na Etiópia de Selassié, na União Soviética de Stálin e na China de Mao. Depois será mais fácil perceber seus indícios em nosso cotidiano, inclusive quando surgem em uma pequena organização (12).
Notas
(1) Arendt, Hannah (c. 1950). O que é política? (Frags. das “Obras Póstumas” (1992), compilados por Ursula Ludz). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
(2) Cf. Dahl, Robert (1998). Sobre a democracia. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001.
(3) O caso de Hobbes é notável, pois além de esse pensador ter lançado os fundamentos para uma justificação filosoficamente elaborada da autocracia, também derruiu os pressupostos cooperativos de qualquer idéia democrática, tendo influência marcante sobre grande parte dos pensadores de outras disciplinas científicas que surgiram ulteriormente – como a biologia da evolução e a economia – até, praticamente, o final do século 19. A esse respeito vale a pena ler a brilhante passagem de Matt Ridley (1996) no livro As origens da virtude: “Thomas Hobbes foi o antepassado intelectual de Charles Darwin em linha direta. Hobbes (1651) gerou David Hume (1739), que gerou Adam Smith (1776), que gerou Thomas Robert Malthus (1798), que gerou Charles Darwin (1859). Foi depois de ler Malthus que Darwin deixou de pensar sobre competição entre grupos e passou a pensar sobre competição entre indivíduos, mudança que Smith fizera um século antes. O diagnóstico hobbesiano – embora não a receita – ainda está no centro tanto da economia quanto da biologia evolutiva moderna (Smith gerou Friedman; Darwin gerou Dawkins). Na raiz das duas disciplinas está a noção de que, se o equilíbrio da natureza não foi projetado de cima mas surgiu de baixo, não há motivo para pensar que se trata de um todo harmonioso. Mais tarde, John Maynard Keynes diria que “A Origem das Espécies” é “simples economia ricardiana expressa em linguagem científica”. E Stephen Jay Gould disse que a seleção natural “era essencialmente a economia de Adam Smith vista na natureza”. Karl Marx fez mais ou menos a mesma observação: “É notável”, escreveu ele a Friedrich Engels, em junho de 1862, “como Darwin reconhece, entre os animais e as plantas, a própria sociedade inglesa à qual pertence, com sua divisão de trabalho, competição, abertura de novos mercados, ‘invenções’ e a luta malthusiana pela existência. É a ‘bellum omnium contra omnes de Hobbes’”. Cf. Ridley, Matt (1996). As origens da virtude: um estudo biológico da solidariedade. Rio de Janeiro: Record, 2000. Sobre os pressupostos competitivos ou cooperativos da democracia ver o Epílogo deste livro.
(4) Honneth, Axel (1998).“Democracia como cooperação reflexiva. John Dewey e a teoria democrática hoje”, (publicado originalmente em “Political Theory”, v. 26, dezembro 1998) traduzido na coletânea Souza, Jessé (org.) (2001). Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. Maturana e os outros (poucos) pensadores, como Honneth, que buscam fundamentos cooperativos para a democracia – totalmente desconsiderados pelos chamados ‘cientistas políticos’ atuais – são exceções. A maioria dos contemporâneos – e nos referimos àqueles realmente convertidos à democracia e não aos que pretendem usá-la instrumentalmente para implementar um projeto autocrático de poder – parece ter herdado dos modernos a obrigação de justificar, a todo instante, que a democracia nos moldes gregos não poderia funcionar nas complexas sociedades da atualidade, em países com um grande número de habitantes com direito de opinar e decidir (talvez esquecendo de ressaltar que a democracia dos gregos era uma experiência comunitária, impossível mesmo de se materializar no âmbito do Estado-nação hodierno e que o problema está nesse tipo de organização política geral e não na impossibilidade técnica de encontrar processos mais proativos capazes de viabilizar a formação democrática da vontade política coletiva). É o que veremos no Epílogo deste livro.
(5) Há uma literatura não-direta ou explicitamente política que começou a aparecer a partir do final da década passada e, em grande parte, já no presente século, que constitui, talvez, a matéria-prima para as novas formulações sobre a democracia que deverão surgir nos próximos anos (disponível nas indicações de leitura e nas notas do capítulo s) centralização deste livro).
(6) Kapuscinski, Ryszard (1978). O Imperador: a queda de um autocrata. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
(7) Montefiore, Simon Sebag (2003). Stálin: a corte do czar vermelho. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
(8) Chang, Jung e Halliday, Jon (2005). Mao: a história desconhecida. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
(9) Sobre isso, valeria a pena conhecer também o livro de Robert Service (2000), “Lênin, a Biography” (traduzido no Brasil como “Lênin: a biografia definitiva”. Rio de Janeiro: Difel, 2007).
(10) Cf. Maturana, Humberto & Verden-Zöller, Gerda (1993). Amor y Juego: fundamentos olvidados de lo humano – desde el Patriarcado a la Democracia. Santiago: Editorial Instituto de Terapia Cognitiva, 1997.
(11) Tal uso da democracia contra a democracia (tomada como regime eleitoral baseado no voto da maioria), substituindo os clássicos golpes de Estado dos anos 60 e 70 do século passado, constitui hoje a nova ameaça à democracia que precisa ser estudada. O banditismo de Estado, em sua forma hard, como na Rússia de Putin, constitui um excelente exemplo da via protoditatorial, mas existem também as formas brandas, como veremos nos capítulos m) demagogia e r) regras. Ainda sobre a via protoditarial russa vale a pena ler o excelente livro da jornalista Anna Politkovskaya (2007), recentemente assassinada pelo regime de Putin, intitulado “Um diário russo” (Rio de Janeiro: Rocco, 2007).
(12) Existem também algumas obras de ficção que ajudam a compreender a natureza e perceber as manifestações – explícitas ou implícitas – do poder vertical. Pouca gente se dá conta de que é possível aprender mais sobre política democrática lendo atentamente esses livros do que estudando volumosos tratados teóricos sobre política. Para quem está interessado na "arte" da política democrática é importantíssimo ler, por exemplo, a série de livros de Frank Herbert, que se inicia com o clássico "Duna". Um curso prático de política democrática deveria recomendar a leitura dos seis volumes que compõem essa série: Dune (1965), Dune Messiah (1969), Children of Dune (1976), God Emperor of Dune (1981), Heretics of Dune (1984) e Chapterhouse: Dune (1985). Herbert faleceu em 1986, quando estava trabalhando no sétimo volume da série. Seus livros foram publicados no Brasil pela Nova Fronteira, com os respectivos títulos: Duna, O Messias de Duna, Os Filhos de Duna, O Imperador-Deus de Duna, Os Hereges de Duna e As Herdeiras de Duna. Um bom - e além de tudo prazeroso – exercício de formação política seria tentar desvendar Duna, do ponto de vista daquelas manifestações do poder vertical que se contrapõem à prática da democracia - quer dizer, das atitudes míticas diante da história, sacerdotais diante do saber, hierárquicas diante do poder e autocráticas diante da política – realizando explorações nesse maravilhoso universo ficcional de Frank Herbert. Existem outras séries de ficção em que se pode aprender muita coisa que os livros de política não ensinam. Destaca-se, em especial, essa formidável mitologia de nossos tempos que consagrou o personagem Darth Vader: a série "Star Wars". Sobre essa série vale a pena ler Decker, Kevin (2005). “Por qualquer meio necessário: tirania, democracia, república e império” in Irwin, William (2005). Star Wars e a filosofia: mais poderoso do que você imagina. São Paulo: Madras, 2005.
ALFABETIZAÇÃO DEMOCRÁTICA
A “utopia” da democracia é a política.
Para facilitar o processo que chamamos aqui de alfabetização democrática selecionamos 24 prospectos que têm como objetivo contribuir para uma espécie de desinfestação ou de desintrojeção das idéias autocráticas que ainda estão infectando nossos cérebros ou colonizando nossas consciências.
Então aqui vão, de A a Z, os prospectos para uma alfabetização democrática que constituem o conteúdo principal deste livro.
Pessoas alfabetizadas em termos democráticos deveriam ser capazes de compreender:
a) que é possível aceitar a legitimidade do outro (mesmo quando o outro está em outro “campo”);
b) que não existe uma verdade política;
c) que nenhuma ideologia política pode ser mais verdadeira ou mais correta do que outra por motivos extrapolíticos (como os científicos, por exemplo);
d) que os seres humanos são capazes de se autoconduzir a partir de suas livres opiniões;
e) que a política não é uma continuação da guerra por outros meios;
Para facilitar o processo que chamamos aqui de alfabetização democrática selecionamos 24 prospectos que têm como objetivo contribuir para uma espécie de desinfestação ou de desintrojeção das idéias autocráticas que ainda estão infectando nossos cérebros ou colonizando nossas consciências.
Então aqui vão, de A a Z, os prospectos para uma alfabetização democrática que constituem o conteúdo principal deste livro.
Pessoas alfabetizadas em termos democráticos deveriam ser capazes de compreender:
a) que é possível aceitar a legitimidade do outro (mesmo quando o outro está em outro “campo”);
b) que não existe uma verdade política;
c) que nenhuma ideologia política pode ser mais verdadeira ou mais correta do que outra por motivos extrapolíticos (como os científicos, por exemplo);
d) que os seres humanos são capazes de se autoconduzir a partir de suas livres opiniões;
e) que a política não é uma continuação da guerra por outros meios;
f) que a democracia é uma questão de ‘modo’ e não uma questão de ‘lado’;
g) que a democracia é um modo pazeante de regulação de conflitos;
h) que o sentido da política (democrática) é a liberdade, não a igualdade;
i) que a democracia não é o regime da maioria (mas exatamente o oposto: o regime das múltiplas minorias);
j) que para um governo ser democrático não basta ter sido eleito sem fraude pela maioria da população (pois quem tem maioria nem sempre tem legitimidade);
k) que o exercício da democracia depende da formação de uma opinião pública (que não é o mesmo que a soma das opiniões privadas da maioria da população);
l) que são profundamente antidemocráticas as afirmações de que ‘não adianta ter democracia se o povo passa fome’ ou de que ‘não adianta ter democracia política enquanto não for reduzida a desigualdade social’;
m) que a democracia não tem proteção eficaz contra o discurso inverídico (e que o populismo e a demagogia têm o inevitável efeito de subverter a democracia);
n) que não é necessário – nem desejável – conquistar hegemonia para implementar um projeto político;
o) que as alianças não são um expediente instrumental (para alguém ficar mais forte e derrotar seus supostos inimigos, descartando ao final os próprios aliados, quando não precisar mais deles);
p) que não é correto – nem desejável – que o vencedor leve tudo (e que é possível estabelecer condições win-win, em que todos ganhem);
q) que a votação nem sempre é a forma mais democrática de escolha e que a construção do consenso é sempre preferível à disputa por votos como processo democrático de decisão;
r) que a democracia não deve escolher alguém para uma função de coordenação política em razão do conteúdo de suas propostas (substantivas) mas basear-se na avaliação de sua disposição de respeitar as regras democraticamente estabelecidas e de sua capacidade de promover a interação democrática de todas as propostas existentes;
s) que todo centralismo é autocrático;
t) que – assegurado o cumprimento das leis – a desobediência política é legítima;
u) que não se pode democratizar a sociedade sem democratizar a política e que só se pode alcançar a democracia praticando democracia (não sendo possível tomar um atalho autocrático para uma sociedade democrática);
v) que é possível democratizar mais – ou radicalizar – a democracia, tornando-a mais participativa (desde que exista a democracia representativa, considerada liberal);
x) que a democracia não é um ensinar, mas um deixar aprender (e que a missão do Estado não é educar a sociedade, corrigindo os supostos “defeitos de fábrica” do ser humano para produzir qualquer monstruosidade como um “homem novo”);
z) que a “utopia” da democracia é a política – uma topia – e não o contrário (ou seja, que não se deve usar a política para objetivos extrapolíticos, como levar as “massas” para algum lugar do futuro; e que, na verdade, não se quer nada com a política a não ser que os seres humanos possam, aqui e agora, viver em liberdade, como seres políticos, participantes da comunidade política).
É um alfabeto inteiro. Um novo alfabeto para uma alfabetização democrática.
CAPITULO A | OUTRO
... que é possível aceitar a legitimidade do outro (mesmo quando o outro está em outro “campo”);
Não existem inimigos naturais ou permanentes.
O primeiro pressuposto da democracia é que as pessoas aceitem a legitimidade das outras pessoas, que são diferentes delas, que têm pontos de vista diversos sobre algo ou sobre tudo, e que, portanto, aceitem o conflito que pode decorrer dessa diferença como algo normal.
Isso parece óbvio, mas não é. É muito difícil aceitar o conflito como algo inerente à pluralidade social em vez de julgá-lo como uma disfunção que deva ser corrigida.
Da aceitação do conflito decorre um modo não-violento de regulação do conflito. A maneira (política) de fazer isso é preservando a existência e procurando manter a convivência entre os conflitantes e não demitindo as pessoas que divergem, mandando-as calar a boca com base em nossa autoridade ou excluindo-as dos lugares que freqüentamos.
Em política, tudo começa na relação com o outro. Não é em mim, nem nele, mas no entre eu-e-ele que a política acontece. Como escreveu certa feita Hannah Arendt (1950), “a política baseia-se na pluralidade dos homens... [mas] o homem é a-político. A política surge no entre-os-homens; portanto totalmente fora dos homens. Por conseguinte, não existe nenhuma substância política original” (1).
Assim, não apenas o primeiro mas o pressuposto fundamental da democracia é reconhecer e aceitar a legitimidade do outro. Admiti-lo no nosso espaço de vida. Não recusar em princípio participar de seu espaço de convivência.
A democracia está fundada no princípio de que os seres humanos podem gerar coletivamente projetos comuns de convivência que reconheçam a legitimidade do outro. Ao contrário da autocracia, em que o modo predominante de regulação do conflito passa pela negação do outro, por meio da violência e da coação, a democracia, como afirmou o biólogo chileno Humberto Maturana (1993), é um sistema de convivência “que somente pode existir através das ações propositivas que lhe dão origem, como uma co-inspiração em uma comunidade humana” (2), pelo qual se geram acordos públicos entre pessoas livres e iguais em um processo de conversação que, por sua vez, só pode se realizar a partir da aceitação do outro como um livre e um igual.
A idéia de que existem “campos” dentro dos quais podemos aceitar a legitimidade do outro e “campos” em relação aos quais seja legítimo negar-lhe legitimidade, conspira contra a democracia. Mais do que isso: impede a democracia. Ninguém pode ser considerado um participante ilegítimo do processo democrático pelo fato de ter sido colocado em outro “campo” por obra de ideologia e assim transformado em inimigo.
Para a democracia todas as inimizades políticas são circunstanciais e reversíveis. Destarte, não existem inimigos naturais ou permanentes que possam ser definidos por razões extrapolíticas: quer por sua posição em relação ao processo de produção, quer por sua riqueza, conhecimento, cultura, crença, língua, nacionalidade, gênero, etnia, cor ou outra condição física ou psíquica.
A não-aceitação da legitimidade do outro leva necessariamente à autocracia. Se, seguindo a sugestão do pensador alemão Carl Schmitt (1932), concebemos o outro como a alteridade que representa a negação do próprio modo de existir e se, assim, em nome da sobrevivência de um grupo, da conservação e da afirmação da sua identidade, achamos que ele deve ser encarado, antes de qualquer coisa, como inimigo real ou potencial, então já não há possibilidade de democracia.
A idéia de que o outro é um potencial inimigo – em vez (ou antes) de ser um provável parceiro – leva à idéia da necessidade de se estar sempre preparado contra ele, de se precaver, de se armar contra o outro para ter como reagir caso ele resolva investir contra nós ou mesmo para dissuadi-lo de intentar tal investida.
Mas ser democrata é aceitar que nosso modo de vida possa ser alterado pelo modo de vida do outro. Significa reconhecer que o outro pode constituir uma alternativa válida ao nosso way of life, ao nosso próprio modo de ser. Significa admitir que as pessoas que estão sob nossa influência podem passar a ser influenciadas pelo outro. Significa assumir que o outro, pelo fato de não ser um eu-mesmo, não configura um “outro lado” e que, por isso, não deve ser exilado em outro “campo”. Não, ele é apenas um outro, sem o qual não pode acontecer a política.
Se os espanhóis não aceitam a legitimidade dos bascos e vice-versa não pode haver solução democrática para o conflito que surgiu da separação entre tais culturas. Se os palestinos não aceitam a legitimidade dos israelenses (e vice-versa), idem. Se os estatistas não aceitam a legitimidade daqueles que consideram neoliberais e fecham as portas dos encontros que realizam à sua participação, idem-idem. Não havendo solução democrática, sobrevirão modos autocráticos de regulação de conflitos: ou a guerra, que não é a continuação da política por outros meios e sim a sua falência; ou a prática da política como “arte da guerra”, que é igualmente autocratizante.
Toda política que divide o mundo sempre em “campos” opostos, encarando quem não está no mesmo “campo” como um inimigo, como um ator ilegítimo, insere-se em uma corrente de autocratização da democracia.
Conviver com o outro – ou aceitá-lo na convivência – é ser capaz de dialogar com ele. A democracia (no sentido “forte” do conceito) é uma capacidade de diálogo amistoso que surge no exercício da conversação na praça (quer dizer, no espaço público), que pode ser aperfeiçoado a ponto de gerar aquilo que Pierre Levy (1994) comparou, em “A inteligência coletiva”, com um “coral polifônico improvisado”. Segundo Levy, em contraposição aos sistemas de convivência em que se enunciam proposições monótonas, repetições de palavras de ordem em manifestações e jargões de identidade de militantes do mesmo partido, a democracia pode tomar como modelo o coral polifônico improvisado:
“Para os indivíduos o exercício é especialmente delicado, pois cada um é chamado ao mesmo tempo a escutar os outros coralistas; a cantar de modo diferenciado; a encontrar uma coexistência harmônica entre sua própria voz e a dos outros, ou seja, melhorar o efeito de conjunto.
É necessário, portanto, resistir aos três “maus atrativos” que incitam os indivíduos a cobrir a voz dos seus vizinhos, cantando demasiado forte, a calar-se, ou a cantar em uníssono.
Nessa ética da sinfonia, o leitor terá percebido as regras da conversação civilizada, da polidez, ou do savoir-vivre – o que consiste em não gritar, em não repetir o que eles acabam de dizer, em responder-lhes, em tentar ser pertinente e interessante, levando em conta o estágio da conversa...
Essa nova democracia poderia assumir a forma de um grande jogo coletivo, no qual ganhariam (mas sempre provisoriamente) os mais cooperativos, os mais urbanos [ou com mais civilidade], os melhores produtores de variedade consonante...
E não os mais hábeis em assumir o poder, em sufocar a voz dos outros ou em captar as massas anônimas...” (3).
O primeiro pressuposto da democracia é que as pessoas aceitem a legitimidade das outras pessoas, que são diferentes delas, que têm pontos de vista diversos sobre algo ou sobre tudo, e que, portanto, aceitem o conflito que pode decorrer dessa diferença como algo normal.
Isso parece óbvio, mas não é. É muito difícil aceitar o conflito como algo inerente à pluralidade social em vez de julgá-lo como uma disfunção que deva ser corrigida.
Da aceitação do conflito decorre um modo não-violento de regulação do conflito. A maneira (política) de fazer isso é preservando a existência e procurando manter a convivência entre os conflitantes e não demitindo as pessoas que divergem, mandando-as calar a boca com base em nossa autoridade ou excluindo-as dos lugares que freqüentamos.
Em política, tudo começa na relação com o outro. Não é em mim, nem nele, mas no entre eu-e-ele que a política acontece. Como escreveu certa feita Hannah Arendt (1950), “a política baseia-se na pluralidade dos homens... [mas] o homem é a-político. A política surge no entre-os-homens; portanto totalmente fora dos homens. Por conseguinte, não existe nenhuma substância política original” (1).
Assim, não apenas o primeiro mas o pressuposto fundamental da democracia é reconhecer e aceitar a legitimidade do outro. Admiti-lo no nosso espaço de vida. Não recusar em princípio participar de seu espaço de convivência.
A democracia está fundada no princípio de que os seres humanos podem gerar coletivamente projetos comuns de convivência que reconheçam a legitimidade do outro. Ao contrário da autocracia, em que o modo predominante de regulação do conflito passa pela negação do outro, por meio da violência e da coação, a democracia, como afirmou o biólogo chileno Humberto Maturana (1993), é um sistema de convivência “que somente pode existir através das ações propositivas que lhe dão origem, como uma co-inspiração em uma comunidade humana” (2), pelo qual se geram acordos públicos entre pessoas livres e iguais em um processo de conversação que, por sua vez, só pode se realizar a partir da aceitação do outro como um livre e um igual.
A idéia de que existem “campos” dentro dos quais podemos aceitar a legitimidade do outro e “campos” em relação aos quais seja legítimo negar-lhe legitimidade, conspira contra a democracia. Mais do que isso: impede a democracia. Ninguém pode ser considerado um participante ilegítimo do processo democrático pelo fato de ter sido colocado em outro “campo” por obra de ideologia e assim transformado em inimigo.
Para a democracia todas as inimizades políticas são circunstanciais e reversíveis. Destarte, não existem inimigos naturais ou permanentes que possam ser definidos por razões extrapolíticas: quer por sua posição em relação ao processo de produção, quer por sua riqueza, conhecimento, cultura, crença, língua, nacionalidade, gênero, etnia, cor ou outra condição física ou psíquica.
A não-aceitação da legitimidade do outro leva necessariamente à autocracia. Se, seguindo a sugestão do pensador alemão Carl Schmitt (1932), concebemos o outro como a alteridade que representa a negação do próprio modo de existir e se, assim, em nome da sobrevivência de um grupo, da conservação e da afirmação da sua identidade, achamos que ele deve ser encarado, antes de qualquer coisa, como inimigo real ou potencial, então já não há possibilidade de democracia.
A idéia de que o outro é um potencial inimigo – em vez (ou antes) de ser um provável parceiro – leva à idéia da necessidade de se estar sempre preparado contra ele, de se precaver, de se armar contra o outro para ter como reagir caso ele resolva investir contra nós ou mesmo para dissuadi-lo de intentar tal investida.
Mas ser democrata é aceitar que nosso modo de vida possa ser alterado pelo modo de vida do outro. Significa reconhecer que o outro pode constituir uma alternativa válida ao nosso way of life, ao nosso próprio modo de ser. Significa admitir que as pessoas que estão sob nossa influência podem passar a ser influenciadas pelo outro. Significa assumir que o outro, pelo fato de não ser um eu-mesmo, não configura um “outro lado” e que, por isso, não deve ser exilado em outro “campo”. Não, ele é apenas um outro, sem o qual não pode acontecer a política.
Se os espanhóis não aceitam a legitimidade dos bascos e vice-versa não pode haver solução democrática para o conflito que surgiu da separação entre tais culturas. Se os palestinos não aceitam a legitimidade dos israelenses (e vice-versa), idem. Se os estatistas não aceitam a legitimidade daqueles que consideram neoliberais e fecham as portas dos encontros que realizam à sua participação, idem-idem. Não havendo solução democrática, sobrevirão modos autocráticos de regulação de conflitos: ou a guerra, que não é a continuação da política por outros meios e sim a sua falência; ou a prática da política como “arte da guerra”, que é igualmente autocratizante.
Toda política que divide o mundo sempre em “campos” opostos, encarando quem não está no mesmo “campo” como um inimigo, como um ator ilegítimo, insere-se em uma corrente de autocratização da democracia.
Conviver com o outro – ou aceitá-lo na convivência – é ser capaz de dialogar com ele. A democracia (no sentido “forte” do conceito) é uma capacidade de diálogo amistoso que surge no exercício da conversação na praça (quer dizer, no espaço público), que pode ser aperfeiçoado a ponto de gerar aquilo que Pierre Levy (1994) comparou, em “A inteligência coletiva”, com um “coral polifônico improvisado”. Segundo Levy, em contraposição aos sistemas de convivência em que se enunciam proposições monótonas, repetições de palavras de ordem em manifestações e jargões de identidade de militantes do mesmo partido, a democracia pode tomar como modelo o coral polifônico improvisado:
“Para os indivíduos o exercício é especialmente delicado, pois cada um é chamado ao mesmo tempo a escutar os outros coralistas; a cantar de modo diferenciado; a encontrar uma coexistência harmônica entre sua própria voz e a dos outros, ou seja, melhorar o efeito de conjunto.
É necessário, portanto, resistir aos três “maus atrativos” que incitam os indivíduos a cobrir a voz dos seus vizinhos, cantando demasiado forte, a calar-se, ou a cantar em uníssono.
Nessa ética da sinfonia, o leitor terá percebido as regras da conversação civilizada, da polidez, ou do savoir-vivre – o que consiste em não gritar, em não repetir o que eles acabam de dizer, em responder-lhes, em tentar ser pertinente e interessante, levando em conta o estágio da conversa...
Essa nova democracia poderia assumir a forma de um grande jogo coletivo, no qual ganhariam (mas sempre provisoriamente) os mais cooperativos, os mais urbanos [ou com mais civilidade], os melhores produtores de variedade consonante...
E não os mais hábeis em assumir o poder, em sufocar a voz dos outros ou em captar as massas anônimas...” (3).
Indicações de leitura
Para começar, seria bom ler alguns textos, importantíssimos, de Hannah Arendt (c. 1950), compilados por Ursula Ludz como fragmentos das “Obras Póstumas” (1992): O que é política?.
Também seria muito importante ler, pelo menos, dois textos de Humberto Maturana: com Gerda Verden-Zöller, Amor y Juego: fundamentos olvidados de lo humano – desde el Patriarcado a la Democracia (1993) e La Democracia es una Obra de Arte (s./d.)
Notas
(1) Cf. Arendt, Hannah (c. 1950). O que é política? (Frags. das “Obras Póstumas” (1992), compilados por Ursula Ludz). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
(2) Cf. Maturana, Humberto & Verden-Zöller, Gerda (1993). Amor y Juego: fundamentos olvidados de lo humano – desde el Patriarcado a la Democracia. Santiago: Editorial Instituto de Terapia Cognitiva, 1997.
(3) Levy, Pierre (1994). A inteligência coletiva. Por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 1998.
Para começar, seria bom ler alguns textos, importantíssimos, de Hannah Arendt (c. 1950), compilados por Ursula Ludz como fragmentos das “Obras Póstumas” (1992): O que é política?.
Também seria muito importante ler, pelo menos, dois textos de Humberto Maturana: com Gerda Verden-Zöller, Amor y Juego: fundamentos olvidados de lo humano – desde el Patriarcado a la Democracia (1993) e La Democracia es una Obra de Arte (s./d.)
Notas
(1) Cf. Arendt, Hannah (c. 1950). O que é política? (Frags. das “Obras Póstumas” (1992), compilados por Ursula Ludz). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
(2) Cf. Maturana, Humberto & Verden-Zöller, Gerda (1993). Amor y Juego: fundamentos olvidados de lo humano – desde el Patriarcado a la Democracia. Santiago: Editorial Instituto de Terapia Cognitiva, 1997.
(3) Levy, Pierre (1994). A inteligência coletiva. Por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 1998.
CAPÍTULO B | VERDADE
... que não existe uma verdade política;
A democracia tem a obrigação de aceitar todas as verdades, menos aquelas que pretendam legitimar a ilegitimidade do outro.
Para haver democracia é necessário que não exista uma verdade política (pois se houver uma verdade, alguém acabará se apropriando dela).
A verdade do outro, ou seja, o que ele julga como verdade para si, pode ser tão legítima quanto a nossa e o seu direito de propô-la ao debate é, definitivamente, tão legítimo quanto o nosso. Essa idéia, em parte decorrente da anterior – uma vez que aceitar que a verdade do outro seja exposta a nós significa aceitar a legitimidade do outro –, abre a possibilidade para a convivência continuada entre os diferentes, sendo, assim, a base da conversação sem a qual não há possibilidade de democracia.
A democracia tem a obrigação de aceitar todas as verdades, menos aquelas que pretendam legitimar a ilegitimidade do outro, desqualificando em princípio sua opinião ou impedindo o seu proferimento.
Por certo, sistemas de pensamento que trabalham com a categoria de verdade, seja transcendente (como a verdade “revelada”), ou imanente (como a verdade “descoberta”, por exemplo, pela ciência), podem existir sem inviabilizar a democracia, a menos que queiram alterar seus pressupostos e procedimentos com base nessa verdade. Assim, por exemplo, a descoberta de uma lei científica certamente informará o debate das opiniões que digam respeito a um determinado fenômeno que esteja presente em uma discussão (por exemplo, se devemos ou não realizar uma obra de transposição de um rio) e afirmar o contrário seria obscurantismo. No entanto, não se pode alegar isso para restringir o debate apenas aos que têm condições de acesso a tal “verdade” excluindo os demais.
Ademais, é muito discutível a afirmação de que a ciência lida com a verdade ou de que seja possível ao conhecimento científico alcançar uma certeza absoluta e final ou fornecer uma compreensão completa e definitiva da realidade (seja lá o que isso for). Todas as elaborações teóricas que compõem as hipóteses científicas são provisórias e todos os dados obtidos experimentalmente são aproximados e, portanto, não se pode estabelecer uma correspondência exata entre as descrições e os fenômenos descritos.
Isso não quer dizer que as descrições fornecidas pela ciência não revelem padrões de comportamento, teias de relações que não são apreensíveis pelo olhar não-científico. Mas as descrições fornecidas pela ciência não são puramente objetivas, i.e., independentes dos sujeitos que as constroem. O processo de conhecimento implica uma interação entre objeto e sujeito, entre fenômeno e observador, entre a coisa que está sendo estudada e as elaborações construídas para descrever seu comportamento. O conhecimento é o resultado dessa interação e, portanto, a maneira como conhecemos condiciona o que conhecemos, se mistura com o que conhecemos, de sorte que não se pode, a rigor, separar o processo de conhecimento da descrição que resulta desse processo. De certo modo todo conhecimento é criado pelo conhecedor e o próprio objeto do conhecimento – supondo que tal objeto exista independentemente do sujeito que conhece – é recriado como objeto conhecível pela interação com o sujeito.
De qualquer modo, o estatuto da ciência é diferente do estatuto da política. Se, mesmo para a ciência, o conceito de verdade já é de difícil aplicação, para a política (democrática) ele é totalmente inaplicável. Se alguém já detém a verdade, então para nada serve a opinião do outro. Em certo sentido, a (suposta) posse da verdade torna o outro ilegítimo na medida em que sua opinião, qualquer que seja ela, se for diferente, será desqualificada em princípio como não-verdadeira e, portanto, considerada inválida na discussão.
Todos os sistemas autocráticos são baseados, de diferentes maneiras e com graus de intensidade diversos, na assumida ou alegada posse da verdade por parte de um chefe ou de um grupo. Mais direta e intensamente quando tal verdade (mítica) foi revelada a alguém que a transmitiu (sacerdotalmente) a seus sucessores, como ocorre, por exemplo, nos fundamentalismos religiosos (contra a verdade de um ayatolá, de que valeria a opinião de alguém?).
A democracia é laica, mesmo quando convive com deuses, como em Atenas (1). Assim, a democracia pode, por certo, conviver com opiniões míticas, como as de um aytolá ou as de um criacionista (que renega as descobertas científicas da biologia da evolução). O que a democracia não pode é desqualificar em princípio uma opinião com base na alegação de que ela está contra uma verdade transcendente, revelada por qualquer meio sobrenatural, em sonhos ou em virtude de interpretação inspirada de uma escritura considerada sagrada (como a do Corão por um ayatolá ou a da Bíblia por um criacionista). Outrossim, a democracia também não pode desqualificar em princípio uma opinião com base na alegação de que ela está contra uma verdade desvendada pelo pensamento analítico, descoberta pela filosofia ou “provada” pela ciência.
Sim, porque pode haver também um fundamentalismo político baseado na “verdade” científica. Por exemplo, a idéia de Kautski (1901), elogiada por Lênin (1902), segundo a qual a consciência socialista moderna não pode surgir senão na base de profundos conhecimentos científicos (2), foi um atentado à democracia. Durante mais de oitenta anos os movimentos da esquerda, no plano internacional, trabalharam com essa idéia autocrática, que serviu para legitimar que sua política era mais científica do que as outras, pois estava baseada em ‘leis da história’ supostamente descobertas pelo chamado “socialismo científico”.
Mas qualquer idéia de que possa existir uma política mais verdadeira, porquanto mais científica, do que outra, é autocratizante. Assim como a idéia de que seja possível uma ciência política, como veremos no próximo capítulo.
Para haver democracia é necessário que não exista uma verdade política (pois se houver uma verdade, alguém acabará se apropriando dela).
A verdade do outro, ou seja, o que ele julga como verdade para si, pode ser tão legítima quanto a nossa e o seu direito de propô-la ao debate é, definitivamente, tão legítimo quanto o nosso. Essa idéia, em parte decorrente da anterior – uma vez que aceitar que a verdade do outro seja exposta a nós significa aceitar a legitimidade do outro –, abre a possibilidade para a convivência continuada entre os diferentes, sendo, assim, a base da conversação sem a qual não há possibilidade de democracia.
A democracia tem a obrigação de aceitar todas as verdades, menos aquelas que pretendam legitimar a ilegitimidade do outro, desqualificando em princípio sua opinião ou impedindo o seu proferimento.
Por certo, sistemas de pensamento que trabalham com a categoria de verdade, seja transcendente (como a verdade “revelada”), ou imanente (como a verdade “descoberta”, por exemplo, pela ciência), podem existir sem inviabilizar a democracia, a menos que queiram alterar seus pressupostos e procedimentos com base nessa verdade. Assim, por exemplo, a descoberta de uma lei científica certamente informará o debate das opiniões que digam respeito a um determinado fenômeno que esteja presente em uma discussão (por exemplo, se devemos ou não realizar uma obra de transposição de um rio) e afirmar o contrário seria obscurantismo. No entanto, não se pode alegar isso para restringir o debate apenas aos que têm condições de acesso a tal “verdade” excluindo os demais.
Ademais, é muito discutível a afirmação de que a ciência lida com a verdade ou de que seja possível ao conhecimento científico alcançar uma certeza absoluta e final ou fornecer uma compreensão completa e definitiva da realidade (seja lá o que isso for). Todas as elaborações teóricas que compõem as hipóteses científicas são provisórias e todos os dados obtidos experimentalmente são aproximados e, portanto, não se pode estabelecer uma correspondência exata entre as descrições e os fenômenos descritos.
Isso não quer dizer que as descrições fornecidas pela ciência não revelem padrões de comportamento, teias de relações que não são apreensíveis pelo olhar não-científico. Mas as descrições fornecidas pela ciência não são puramente objetivas, i.e., independentes dos sujeitos que as constroem. O processo de conhecimento implica uma interação entre objeto e sujeito, entre fenômeno e observador, entre a coisa que está sendo estudada e as elaborações construídas para descrever seu comportamento. O conhecimento é o resultado dessa interação e, portanto, a maneira como conhecemos condiciona o que conhecemos, se mistura com o que conhecemos, de sorte que não se pode, a rigor, separar o processo de conhecimento da descrição que resulta desse processo. De certo modo todo conhecimento é criado pelo conhecedor e o próprio objeto do conhecimento – supondo que tal objeto exista independentemente do sujeito que conhece – é recriado como objeto conhecível pela interação com o sujeito.
De qualquer modo, o estatuto da ciência é diferente do estatuto da política. Se, mesmo para a ciência, o conceito de verdade já é de difícil aplicação, para a política (democrática) ele é totalmente inaplicável. Se alguém já detém a verdade, então para nada serve a opinião do outro. Em certo sentido, a (suposta) posse da verdade torna o outro ilegítimo na medida em que sua opinião, qualquer que seja ela, se for diferente, será desqualificada em princípio como não-verdadeira e, portanto, considerada inválida na discussão.
Todos os sistemas autocráticos são baseados, de diferentes maneiras e com graus de intensidade diversos, na assumida ou alegada posse da verdade por parte de um chefe ou de um grupo. Mais direta e intensamente quando tal verdade (mítica) foi revelada a alguém que a transmitiu (sacerdotalmente) a seus sucessores, como ocorre, por exemplo, nos fundamentalismos religiosos (contra a verdade de um ayatolá, de que valeria a opinião de alguém?).
A democracia é laica, mesmo quando convive com deuses, como em Atenas (1). Assim, a democracia pode, por certo, conviver com opiniões míticas, como as de um aytolá ou as de um criacionista (que renega as descobertas científicas da biologia da evolução). O que a democracia não pode é desqualificar em princípio uma opinião com base na alegação de que ela está contra uma verdade transcendente, revelada por qualquer meio sobrenatural, em sonhos ou em virtude de interpretação inspirada de uma escritura considerada sagrada (como a do Corão por um ayatolá ou a da Bíblia por um criacionista). Outrossim, a democracia também não pode desqualificar em princípio uma opinião com base na alegação de que ela está contra uma verdade desvendada pelo pensamento analítico, descoberta pela filosofia ou “provada” pela ciência.
Sim, porque pode haver também um fundamentalismo político baseado na “verdade” científica. Por exemplo, a idéia de Kautski (1901), elogiada por Lênin (1902), segundo a qual a consciência socialista moderna não pode surgir senão na base de profundos conhecimentos científicos (2), foi um atentado à democracia. Durante mais de oitenta anos os movimentos da esquerda, no plano internacional, trabalharam com essa idéia autocrática, que serviu para legitimar que sua política era mais científica do que as outras, pois estava baseada em ‘leis da história’ supostamente descobertas pelo chamado “socialismo científico”.
Mas qualquer idéia de que possa existir uma política mais verdadeira, porquanto mais científica, do que outra, é autocratizante. Assim como a idéia de que seja possível uma ciência política, como veremos no próximo capítulo.
Indicações de leitura
Vale a pena ler dois artigos de Hannah Arendt; o primeiro intitulado “Verdade e Política” (que foi publicado pela primeira vez em The New Yorker, em fevereiro de 1967) incluído na coletânea Entre o passado e o futuro (1968); e o segundo intitulado “A mentira na política: considerações sobre os Documentos do Pentágono”, incluído na coletânea Crises da República (1972).
E também os seguintes textos de Humberto Maturana: “Biología del fenómeno social” (1985), “Herencia y medio ambiente” (com Jorge Luzoro, 1985), “Ontología del Conversar” (1988), “Lenguaje y realidad: el origen de lo humano” (1988), “Una mirada a la educacion actual desde la perspectiva de la biologia del conocimiento” (1988), “Lenguaje, emociones y etica en el quehacer politico” (1988) e El sentido de lo humano (1991).
Notas
(1) Mas depende muito dos deuses em questão. Inanna e Marduk dos sumérios e a maioria dos panteões derivados dos antigos mesopotâmios são compostos por deuses feitos à imagem e semelhança dos poderosos, adequados à reprodução dos sistemas autocráticos. Na Grécia democrática dos séculos século 6 e 5 antes da Era Comum, as coisas eram um pouco diferentes. Quando Sócrates foi acusado de afrontar “os deuses da cidade” de Atenas, os deuses que ele ofendeu foram, provavelmente, a deusa cívica da democracia, Peito – a persuasão deificada – e o Zeus Agoraios, quer dizer, o deus da assembléia, divindade tutelar dos livres debates. Em “O julgamento de Sócrates”, Isidor Feinstein Stone (1988) observa, com razão, que “esses deuses encarnavam as instituições democráticas de Atenas”. Não cabe discutir aqui por que existiam deuses em todas as cidades da Antiguidade. Na Grécia antiga, pelo menos, a religião tinha uma função cívica, refletia os costumes locais e continha o “nómos” contra o qual Sócrates se insurgiu. Sócrates não foi acusado de ateísmo: não havia nenhuma lei em Atenas que proibisse o ateísmo. Mas Atenas fez um esforço notável para adaptar sua mitologia e sua história às suas concepções de democracia. E o fato de Sócrates ter ofendido “os deuses da cidade”, significa, muito provavelmente, que ele rejeitou – não apenas por palavras, mas por ações – os costumes (“nómos”) democráticos. Entre os gregos, porém, nem mesmo a deificação de procedimentos e instâncias, como a persuasão (como Peito) e a praça (agora) onde ocorria a livre troca de opiniões (como Zeus Agoraios), evitou a corrupção da política (e. g., entre Sócrates e seus discípulos) e o uso da democracia contra a democracia (inclusive pelos discípulos de Sócrates), como veremos adiante. Cf. Stone, I, F. (1988). O julgamento de Sócrates. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
(2) Lênin, V. I. (1902). “O que fazer?” (incontáveis edições).
CAPÍTULO C | CIÊNCIA
... que nenhuma ideologia política pode ser mais verdadeira ou mais correta do que outra por motivos extrapolíticos (como os científicos, por exemplo);
Qualquer tentativa de desqualificar ou qualificar uma opinião, por fora do processo político, leva à autocracia.
Se uma ideologia política puder ser mais verdadeira ou correta do que outra por motivos extrapolíticos, então não é necessária a política. Basta consultar o “oráculo”, quer dizer, a fonte de tais motivos para saber qual é a ideologia melhor (e escolher a verdadeira eliminando a falsa; ou ficar com a correta descartando a errada). Para a democracia, entretanto, tal fonte não existe; ou, se existe, não é da sua conta. Acredite no que quiser, quem quiser. A política (democrática) lida com opiniões que transitam no interior do processo político e não com crenças que pairam acima (ou jazem abaixo) desse processo.
A democracia não quer saber se acima, abaixo ou por trás de uma opinião existe uma ideologia verdadeira ou correta. Desde que expresse a vontade política de um indivíduo, a opinião, independentemente das suas motivações – como a visão de mundo que a sustenta ou em face da qual ela faz sentido –, deve ser considerada. Se tal opinião expressar a vontade política coletiva, então deve ser encaminhada. Não importa para nada no processo democrático, por exemplo, se a opinião que prevaleceu na discussão sobre o ensino do darwinismo nas escolas saiu da cabeça de um criacionista do interior do Nebraska ou de Richard Dawkins. O foco da democracia é o processo pelo qual se forma a vontade política coletiva e não a origem ou a natureza das propostas que expressam, em cada momento, essa vontade. Qualquer coisa diferente disso, qualquer tentativa de desqualificar ou qualificar uma opinião, por fora do processo político, com base na aceitação ou na rejeição de um conjunto de crenças ou de conhecimentos, leva à autocracia, não à democracia. Mesmo que a fonte seja a ciência. Se for o caso de uma proposta que atente contra conhecimentos científicos universalmente aceitos, cabe ao processo político evidenciar sua inconsistência; ou não. Na democracia não pode haver um “tribunal epistemológico” nem uma “alfândega ideológica” determinando que idéias devem ser consideradas ou ter trânsito livre.
A democracia não é contra qualquer convicção – religiosa, filosófica, científica ou técnica – mas apenas não pode aceitar que, com base nessa convicção, se tome um atalho para evitar o processo político de interação e polinização mútua das diversas opiniões apresentadas ao debate.
É significativo o fato de não conhecermos o “pai” da democracia, que não haja um fundador ou uma escritura de referência. É significativo o fato de não existir um inventor da utopia democrática (e mais ainda, como veremos no último capítulo, o fato de a democracia não ser uma utopia). Ainda que os atenienses venerassem Sólon como fundador da democracia – não sem alguma razão, pois que a legislação de Sólon, em 594, aboliu a servidão por dívidas (coisa que os romanos só foram fazer em 326), sem o que estaria inviabilizada a igualdade básica dos cidadãos que, talvez, tenha preparado terreno para o advento da democracia – isso não significa que ele fosse de fato um fundador, no sentido de codificador de uma doutrina ou elaborador de uma utopia.
É claro que, depois, houve gente, como Platão, tentando construir uma lenda, urdir um mito em torno da figura de Sólon. Segundo tal mito – narrado no “Timeu” – Sólon teria recebido algum tipo de iniciação dos sacerdotes egípcios, tomando conhecimento do que havia ocorrido em tempos ancestrais, nove milênios antes, em uma suposta “idade de ouro” da Grécia que, não por acaso, regia-se àquela época por um sistema autocrático, baseado em uma sociedade de castas, regime tão excelente que foi por meio dele que, segundo o filósofo insinua, logrou resistir às investidas militares da lendária Atlântida, preservando a civilização helênica.
Para Platão, era uma questão de substituir o papel desempenhado pela democracia, nos enfrentamentos reais com os persas, pelo papel da autocracia, em um imaginário enfrentamento com a Atlântida. Tratava-se de substituir os fundamentos (contingentes) da democracia grega por fundamentos (necessários) da autocracia projetada por ele (Platão) em sua República. Ocorre que Sólon não restabeleceu, na Atenas de sua época, o autocrático sistema ancestral de castas; em vez disso, aboliu a servidão por dívidas. E não porque não pudesse colocar em prática os conhecimentos esotéricos que recebeu dos sacerdotes egípcios, em virtude, como argumenta Platão, de ter encontrado, em sua volta a Atenas, “sedições e outros males” (supostamente decorrentes de um regime político imperfeito), mas, como explicou com mais honestidade Aristóteles, para restaurar a estabilidade social estabelecendo um mínimo de justiça, de vez que os pobres da Ática tinham se transformado em escravos dos ricos com base em uma legislação que dava aos credores o poder de impor a servidão aos devedores que não conseguissem saldar suas dívidas. Sobre isso, I. F. Stone observou, com argúcia, que “se Sólon tivesse gostado do que vira no Egito, esse sistema [de servidão] seria um meio oportuno de instituir na Ática a escravidão por dívidas que havia entre os egípcios” (1).
A tentativa de Platão é exemplar pois revela uma certa metodologia ou uma certa “engenharia” ideológica da autocratização: a) cria-se um mito (na Antiguidade, quase sempre baseado em um núcleo de conteúdo esotérico, transmitido sacerdotalmente em iniciações às quais só têm acesso alguns escolhidos – entre os quais o fundador, o condutor, o guia); b) o papel desse mito é modificar o passado para justificar um novo caminho para o futuro; c) projeta-se então um futuro que seria o desdobramento natural desse passado modificado, delineando o caminho verdadeiro e correto, do qual os homens se afastaram em virtude de seus pecados ou faltas e das falhas do sistema que erigiram esquecendo-se da sua origem virtuosa ou renegando-a; d) logo, o futuro glorioso será aquele para o qual caminharemos guiados pela utopia que expressa um alvo que nada mais é do que resgate e consumação da própria origem (Kraus). O esquema é recorrente, quer se trate da utopia platônica de restaurar a idade de ouro da civilização helênica, quer se trate da utopia socialista de recuperar, em uma sociedade sem classes do futuro, o comunismo primitivo.
Se uma ideologia política puder ser mais verdadeira ou correta do que outra por motivos extrapolíticos, então não é necessária a política. Basta consultar o “oráculo”, quer dizer, a fonte de tais motivos para saber qual é a ideologia melhor (e escolher a verdadeira eliminando a falsa; ou ficar com a correta descartando a errada). Para a democracia, entretanto, tal fonte não existe; ou, se existe, não é da sua conta. Acredite no que quiser, quem quiser. A política (democrática) lida com opiniões que transitam no interior do processo político e não com crenças que pairam acima (ou jazem abaixo) desse processo.
A democracia não quer saber se acima, abaixo ou por trás de uma opinião existe uma ideologia verdadeira ou correta. Desde que expresse a vontade política de um indivíduo, a opinião, independentemente das suas motivações – como a visão de mundo que a sustenta ou em face da qual ela faz sentido –, deve ser considerada. Se tal opinião expressar a vontade política coletiva, então deve ser encaminhada. Não importa para nada no processo democrático, por exemplo, se a opinião que prevaleceu na discussão sobre o ensino do darwinismo nas escolas saiu da cabeça de um criacionista do interior do Nebraska ou de Richard Dawkins. O foco da democracia é o processo pelo qual se forma a vontade política coletiva e não a origem ou a natureza das propostas que expressam, em cada momento, essa vontade. Qualquer coisa diferente disso, qualquer tentativa de desqualificar ou qualificar uma opinião, por fora do processo político, com base na aceitação ou na rejeição de um conjunto de crenças ou de conhecimentos, leva à autocracia, não à democracia. Mesmo que a fonte seja a ciência. Se for o caso de uma proposta que atente contra conhecimentos científicos universalmente aceitos, cabe ao processo político evidenciar sua inconsistência; ou não. Na democracia não pode haver um “tribunal epistemológico” nem uma “alfândega ideológica” determinando que idéias devem ser consideradas ou ter trânsito livre.
A democracia não é contra qualquer convicção – religiosa, filosófica, científica ou técnica – mas apenas não pode aceitar que, com base nessa convicção, se tome um atalho para evitar o processo político de interação e polinização mútua das diversas opiniões apresentadas ao debate.
É significativo o fato de não conhecermos o “pai” da democracia, que não haja um fundador ou uma escritura de referência. É significativo o fato de não existir um inventor da utopia democrática (e mais ainda, como veremos no último capítulo, o fato de a democracia não ser uma utopia). Ainda que os atenienses venerassem Sólon como fundador da democracia – não sem alguma razão, pois que a legislação de Sólon, em 594, aboliu a servidão por dívidas (coisa que os romanos só foram fazer em 326), sem o que estaria inviabilizada a igualdade básica dos cidadãos que, talvez, tenha preparado terreno para o advento da democracia – isso não significa que ele fosse de fato um fundador, no sentido de codificador de uma doutrina ou elaborador de uma utopia.
É claro que, depois, houve gente, como Platão, tentando construir uma lenda, urdir um mito em torno da figura de Sólon. Segundo tal mito – narrado no “Timeu” – Sólon teria recebido algum tipo de iniciação dos sacerdotes egípcios, tomando conhecimento do que havia ocorrido em tempos ancestrais, nove milênios antes, em uma suposta “idade de ouro” da Grécia que, não por acaso, regia-se àquela época por um sistema autocrático, baseado em uma sociedade de castas, regime tão excelente que foi por meio dele que, segundo o filósofo insinua, logrou resistir às investidas militares da lendária Atlântida, preservando a civilização helênica.
Para Platão, era uma questão de substituir o papel desempenhado pela democracia, nos enfrentamentos reais com os persas, pelo papel da autocracia, em um imaginário enfrentamento com a Atlântida. Tratava-se de substituir os fundamentos (contingentes) da democracia grega por fundamentos (necessários) da autocracia projetada por ele (Platão) em sua República. Ocorre que Sólon não restabeleceu, na Atenas de sua época, o autocrático sistema ancestral de castas; em vez disso, aboliu a servidão por dívidas. E não porque não pudesse colocar em prática os conhecimentos esotéricos que recebeu dos sacerdotes egípcios, em virtude, como argumenta Platão, de ter encontrado, em sua volta a Atenas, “sedições e outros males” (supostamente decorrentes de um regime político imperfeito), mas, como explicou com mais honestidade Aristóteles, para restaurar a estabilidade social estabelecendo um mínimo de justiça, de vez que os pobres da Ática tinham se transformado em escravos dos ricos com base em uma legislação que dava aos credores o poder de impor a servidão aos devedores que não conseguissem saldar suas dívidas. Sobre isso, I. F. Stone observou, com argúcia, que “se Sólon tivesse gostado do que vira no Egito, esse sistema [de servidão] seria um meio oportuno de instituir na Ática a escravidão por dívidas que havia entre os egípcios” (1).
A tentativa de Platão é exemplar pois revela uma certa metodologia ou uma certa “engenharia” ideológica da autocratização: a) cria-se um mito (na Antiguidade, quase sempre baseado em um núcleo de conteúdo esotérico, transmitido sacerdotalmente em iniciações às quais só têm acesso alguns escolhidos – entre os quais o fundador, o condutor, o guia); b) o papel desse mito é modificar o passado para justificar um novo caminho para o futuro; c) projeta-se então um futuro que seria o desdobramento natural desse passado modificado, delineando o caminho verdadeiro e correto, do qual os homens se afastaram em virtude de seus pecados ou faltas e das falhas do sistema que erigiram esquecendo-se da sua origem virtuosa ou renegando-a; d) logo, o futuro glorioso será aquele para o qual caminharemos guiados pela utopia que expressa um alvo que nada mais é do que resgate e consumação da própria origem (Kraus). O esquema é recorrente, quer se trate da utopia platônica de restaurar a idade de ouro da civilização helênica, quer se trate da utopia socialista de recuperar, em uma sociedade sem classes do futuro, o comunismo primitivo.
Sólon, porém, conquanto possa ter desempenhado um papel fundamental para a invenção da democracia grega, não fundou caminho algum, não anunciou qualquer utopia, nem mesmo teorizou uma linha sequer sobre a democracia. Clístenes ou Péricles ou Temístocles, os três expoentes mais conhecidos da democracia grega, não foram fundadores de escolas de pensamento, nem utopistas. Pelo que se sabe, eles não tentaram justificar a excelência da democracia empregando semelhante mecanismo de validação extrapolítica, baseado em algum mito ou em algum conhecimento mais verdadeiro ou mais correto.
Sim, pois o que Platão estava tentando fazer senão validar uma ideologia política como mais verdadeira ou mais correta do que outra por motivos extrapolíticos? No caso, os motivos usados por ele eram, se se pode dizer assim, filosóficos; ou, mais propriamente, teosóficos. Dois mil e quinhentos anos depois, entretanto, surgiram novos “Platões” apresentando motivos científicos para fazer exatamente a mesma coisa.
Assim como o esoterismo religioso ou teosófico é, via de regra, autocrático, o elogio da meritocracia que ocorreu no ocidente, nos mosteiros católicos e, depois, a partir do final do primeiro milênio, nas universidades, também se inseriu, não raro, em uma corrente autocratizante ao atribuir, direta ou indiretamente, ao saber acadêmico, uma condição superior de estabelecer – top down – uma ordem para a sociedade.
Nada contra a valorização do conhecimento científico. Mas ocorre que, do ponto de vista da democracia (no sentido “forte” do conceito), a valorização do saber nem sempre é boa em termos democráticos. Não é boa quando desvaloriza a opinião em relação ao saber. E é fato que qualquer sistema baseado em meritocracia (como a tecnocracia), mesmo quando não o pretenda, acaba desvalorizando a opinião em relação ao saber (como veremos no próximo capítulo) e acaba instituindo motivos extrapolíticos – não raro apresentados como científicos – para validar determinadas ideologias políticas como mais verdadeiras ou mais corretas do que outras (2).
Platão, sobretudo no diálogo “O Político”, oferece-nos um exemplo perfeito de como a consideração da política como uma ciência – a ser exercida por um homem de ciência, aquele que sabe e, por isso, pode mandar – descamba necessariamente para a autocracia. Sua tese central é a de que somente a ciência pode definir o político. Trata-se, como observou com argúcia Cornelius Castoriadis (1986), de uma “denegação da capacidade de dirigir-se dos indivíduos que compõem a sociedade” (3).
Para Platão, o político verdadeiro é o homem régio, ou o homem que possui a ciência régia da tecelagem, pela qual, realizando “o mais excelente e o mais magnífico de todos os tecidos, envolve, em cada cidade, todo o povo, escravos e homens livros, aperta-os juntos em sua trama e, assegurando à cidade, sem ausência nem falta, toda a felicidade de que ela pode gozar, ela manda e ela dirige...” (4).
Para Platão “não é a lei, mas a ciência que deve prevalecer na cidade. Essa ciência é possuída pelo político, e nunca pode ser adequadamente depositada em ou representada por leis” (5).
Enfim, a política é uma ciência, uma epistéme no sentido forte do termo. Os governantes que possuem tal ciência, como dizia o hino do Partido Comunista da ex-República Democrática da Alemanha, têm sempre, têm sempre, têm sempre razão, “quer ajam de acordo com as leis, ou contra as leis e quer eles governem sujeitos que concordem ou não em ser governados, e governados assim” (6). E “não apenas contra as leis, mas também ele pode matar ou exilar cidadãos, uma vez que age ep’ agathôi, para o bem da cidade, uma vez que tem o saber, portanto sabe o que é bom para a cidade. Isso realmente – arremata Castoriadis – é a legitimação do poder absoluto, é o secretário do Partido Comunista que sabe o que é bom para a classe trabalhadora” (7).
O advento de uma ciência política acabou, de certo modo, reforçando o preconceito contra a opinião. Não que não possa (e não deva) existir uma ciência do estudo da política. O que não pode existir – para a democracia – é uma política científica. Se existisse, stricto sensu, uma ciência política, os que possuíssem tal ciência teriam vantagens (ou a eles acabariam sendo atribuídas vantagens) no processo político. Na escolha democrática de quem deveria redigir uma proposta ou de quem deveria coordenar sua implantação, por exemplo, um cientista político seria considerado – por motivos extrapolíticos – mais apto à tarefa do que um ex-metalúrgico.
Ora, se a política fosse uma ciência, os cientistas políticos teriam, em relação às tarefas políticas, mais condições de exercê-las do que os leigos (os não-cientistas). Isso levaria, no limite, ao governo dos sábios de Platão, aprofundando a separação entre sábios e ignorantes que está na raiz do poder autocrático.
Tudo indica – felizmente – que a política não é exatamente uma ciência e sim algo mais parecido com uma “arte” e a primeira evidência disso é que se a política fosse uma ciência os melhores atores políticos, aqueles que se destacam por sua capacidade de articulação, seriam os cientistas políticos, o que não ocorre. Pelo contrário, os atributos do político são de outra natureza: permanente atenção para captar movimentos sutis de opinião dos demais atores políticos; aguçada capacidade de perceber tendências e antever desfechos; presença de espírito para reagir no tempo certo (não antes, nem depois: a noção de “timing” está entre as principais virtudes do ator político); e habilidade para se deslocar em terrenos pantanosos e para achar caminho no meio do cipoal (ou seja, requer uma espécie de bússola interior, que assegure que o rumo não será perdido).
Em suma, a política é uma atividade que conta com recursos que nunca podem ser totalmente explicitados (e adquiridos) pelo estudo da política. Por exemplo, em algumas situações o ator político deve avançar; em outras, deve recuar; e em outras, ainda, deve ficar totalmente impassível, mas dificilmente pode-se elaborar uma metodologia ou um manual que indique quando se deve tomar cada uma dessas atitudes. Há um sentido de fluxo ou refluxo que deve ser percebido pelo ator político e essa percepção em geral não está no nível da consciência: é o glance (o “golpe de vista”), é o blink (aquela “decisão em um piscar de olhos” que pode ser mais valiosa do que uma orientação maturada ao longo de meses de estudo). Enfim, a política requer a capacidade criativa, já aventada por Heráclito, há mais de 2.500 anos, de esperar o inesperado – sim, na política democrática os desfechos estão sempre abertos – para poder encontrar o inesperado, quer dizer, para conseguir configurar e se inserir naquela situação única, inédita e favorável à realização de um projeto (8).
Diferentemente de várias disciplinas, cujos conteúdos podem ser apreendidos por meio de processos pedagógicos formais, a política requer outros tipos de esforços de aprendizado. Grande parte dos chamados cientistas políticos – mesmo os que colecionam títulos acadêmicos de mestrado, doutorado e pós-doutorado – não conseguiria dirigir a contento uma organização bem simples diante de uma variedade de opiniões e interesses conflitantes. Isso para não falar de desafios políticos mais complexos, como o de articular a elaboração coletiva de um projeto em um ambiente hostil ou o de aprová-lo em uma instância em que suas idéias básicas são francamente minoritárias. E é ótimo para a democracia que seja assim.
Indicações de leitura
Recomenda-se vivamente a leitura do maravilhoso livro do velho jornalista Isidor Feinstein Stone (I. F. Stone, como ficou conhecido a partir de 1937), intitulado O julgamento de Sócrates ("The trial of Socrates". New York: Anchor Books, 1988), editado no Brasil pela Companhia das Letras em 1988 e há dois anos reeditado em versão econômica. Stone faleceu em junho de 1989 e não chegou a ver a repercussão do seu excelente trabalho.
Na mesma linha, não se pode deixar de ler a série de seminários de Cornelius Castoriadis, proferidos entre 19 de fevereiro e 30 de abril de 1986, publicados postumamente, em 1999, sob o título “Sobre ‘O Político’ de Platão” (9).
É impossível deixar de ler também o clássico discurso de Max Weber, intitulado: “Política como vocação” (ou “Política como profissão”: “Politik als Beruf”), que contém conferências proferidas por Weber, na Universidade de Munique – na verdade, na Associação dos Estudantes Livres – no inverno da Revolução de 1918-1919.
Para quem está interessado no estatuto surpreendente da política vale a pena ler três livrinhos instigantes, que jamais seriam recomendados em um curso de ciência política (o que, aliás, só confirma os comentários deste capítulo): Roger von Oech: Espere o inesperado ou você não o encontrará: uma ferramenta de criatividade baseada na ancestral sabedoria de Heráclito (2001); William Dugan: O estalo de Napoleão: o segredo da estratégia (2002); e, Malcolm Gladwell: Blink: a decisão em um piscar de olhos (2005).
Notas
(1) Cf. Stone, I, F. (1988). O julgamento de Sócrates. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
(2) A partir da segunda metade do século 20 as universidades (e as escolas de ensino médio e fundamental em que lecionam os licenciados pelas universidades) transformaram-se, nas chamadas áreas humanas e sociais e em suas disciplinas, em alguns casos, em espécies de “madrassas” laicas. Sobretudo depois de Gramsci, essas instituições passaram a ser encaradas (e ocupadas) como aparelhos ideológicos do Estado nos quais (e a partir dos quais) seria necessário conquistar hegemonia. E de fato houve, nessas áreas consideradas, sobretudo no Brasil, mas também em vários outros países, a predominância do "marxismo como profissão" e não apenas como profissão de fé (uma espécie de "religião laica" que foi adotada na academia), mas como meio-de-vida mesmo. Para prosperar na carreira, ser acolhido pela comunidade acadêmica, não ser considerado reacionário, conservador, retrógrado ou de direita, um professor deveria se alinhar à ortodoxia marxista. E assim três ou quatro gerações de estudantes foram impregnadas de ideologia, contaminadas pelo “método científico ou dialético de ver a realidade”. Mas, em especial, sua apreensão da democracia foi já deformada pela visão de que existiriam duas democracias, em certo sentido opostas: a democracia burguesa, das elites e representativa – mera forma de legitimação da dominação de classe utilizada pelos exploradores – e a democracia socialista, essa sim a verdadeira democracia popular, mas que só poderia ser instaurada com a vitória das forças progressistas sobre os conservadores, quer dizer, da esquerda sobre a direta, e que só se realizaria plenamente quando o Estado fosse colocado a serviço dos dominados. Até hoje esse processo de desconstituição da idéia de democracia continua. A democracia é encarada como um mero expediente na luta contra o capital e contra os opressores do povo. Serve como um instrumento do combate dos oprimidos, devendo dela aproveitar-se os combatentes para mover sua luta em liberdade (liberdade essa que deveria ser negada aos que estão no poder quando se invertesse a correlação de forças). Não é por acaso que freqüentemente encontramos, nos livros escolares, sórdidos relatos da democracia grega, onde a ênfase é sempre colocada no fato de Atenas ter tido, a certa altura do período democrático, menos de cem mil homens livres aptos a usufruir sua democracia, porquanto eram sustentados por cerca de duzentos mil escravos que não tinham qualquer direito de participar da vida política da polis. E por incrível que pareça há ainda quem sublinhe que lá, na Atenas daquela época, as mulheres também não podiam participar da democracia (coisa que somente ocorreu no século passado em quase todo o mundo), para, assim, passar a mensagem de que se tratava de um sistema imperfeito mesmo, “provando” com isso que a democracia não pode realmente ocorrer em uma sociedade de classes.
(3) Segundo Castoriadis, “poder-se-ia muito bem dizer que a política é um saber fazer empírico. E é o que é preciso dizer, aliás. Empírico, não quero dizer com isso uma arte curativa, mas, finalmente, é algo que não pode, sob nenhum aspecto ser chamado de ciência. Contudo, o Estrangeiro [personagem do diálogo platônico “O Político”] diz que o político é o ton epistèmonon tis [um daqueles que possuem uma ciência], um entre os sábios, mas os sábios de um saber certo. “Como não?”, responde o jovem Sócrates. E está decidido: a política é uma ciência; e o político é aquele que possui essa ciência. Essa subsunção falaciosa do político sob a ciência permitirá toda a seqüência do raciocínio de Platão”. Cf. Castoriadis, Cornelius (1986/1999). Sobre ‘O Político’ de Platão. São Paulo: Loyola, 2004.
(4) Platão. “Politique” in Oeuvres Completes, Tome Cinquième”. Paris: Garnier, 1950.
(5)-(7) Cf. Castoriadis: op cit.
(8) Cf.: von Oech, Roger (2001). Espere o inesperado ou você não o encontrará: uma ferramenta de criatividade baseada na ancestral sabedoria de Heráclito. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003; Dugan, William (2002). O estalo de Napoleão: o segredo da estratégia. São Paulo: Francis, 2005; e Gladwell, Malcolm (2005). Blink: a decisão em um piscar de olhos. Rio de Janeiro: Rocco, 2005.
(9) Castoriadis, Cornelius (1986/1999). Sobre ‘O Político’ de Platão. São Paulo: Loyola, 2004.
Assinar:
Postagens (Atom)